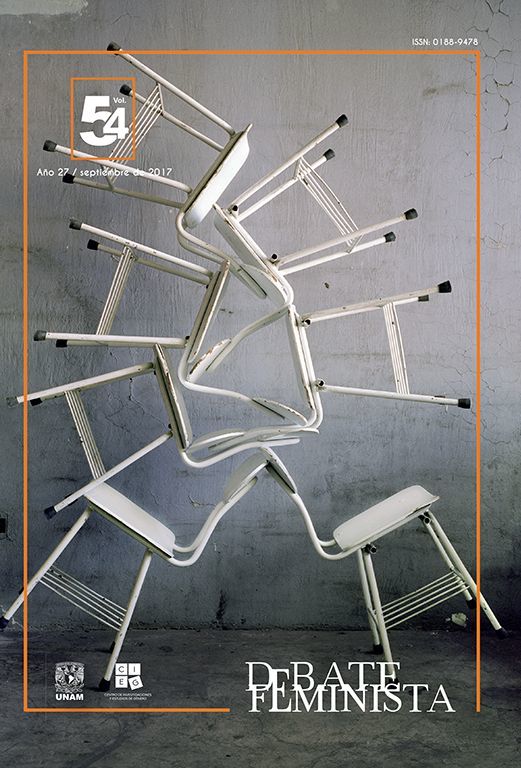Qual a relação entre patriarcado, capitalismo, violência e (in)justiça? De que forma a violência contra a mulher se traduz numa violência contra a própria política e condena o sucesso de um projeto democrático? Este artigo visa responder a estas questões, desdobrando‐se em duas tarefas distintas: por um lado, a tarefa descritiva do que é, nomeadamente, a representação da sociedade brasileira marcada por uma lógica de violência contra a mulher que assenta num modelo patriarcal; por outro lado, a tarefa prescritiva de como pode ser, mostrando que um real compromisso com a democracia passa necessariamente pela superação de todas as lógicas de dominação e opressão, o que significa que a questão de gênero assume papel central na busca de emancipação humana.
¿Qué relación existe entre patriarcado, capitalismo, violencia e (in)justicia? ¿De qué manera se traduce la violencia contra la mujer en una violencia contra la política misma, condenando el éxito de un proyecto democrático? Este artículo busca responder a estas preguntas mediante dos tareas distintas: una descriptiva, y la otra prescriptiva. Por una parte, mostrar lo que nominalmente es la representación de la sociedad brasileña, enmarcada en la lógica de la violencia contra la mujer, proveniente del modelo patriarcal; por otra parte, plantear que un verdadero compromiso con la democracia pasa necesariamente por la superación de todas las lógicas de dominación y opresión, lo que significa que la cuestión de género ocupa un papel central en la búsqueda de la emancipación humana.
What is the connection between patriarchy, capitalism, violence and (in)justice? How does violence against women translate into violence against politics in general, condemning a democratic project to failure? This article seeks to answer these questions by focusing on two different tasks: on the one hand, the descriptive task––essentially a representation of Brazilian society marked by a logic of violence against women based on a patriarchal model––and on the other, the prescriptive task of how this can be overcome by a genuine commitment to democracy, which necessarily involves offsetting the logics of domination and oppression, the gender issue assuming a central role in the quest for human emancipation.
Qual a relação entre patriarcado, capitalismo, violência e (in)justiça? De que forma a violência contra a mulher se traduz numa violência contra a própria política e condena o sucesso de um projeto democrático? Este artigo visa responder a estas questões, desdobrando‐se em duas tarefas distintas: por um lado, a tarefa descritiva do que é, nomeadamente, a representação da sociedade brasileira marcada por uma lógica de violência contra a mulher que assenta num modelo patriarcal; por outro lado, a tarefa prescritiva do que pode ser, mostrando que um real compromisso com a democracia passa necessariamente pela superação de todas as lógicas de dominação e opressão, o que significa que a questão de gênero assume papel central na busca de emancipação humana. Este artigo tem três momentos. Num primeiro momento, quero mostrar as formas pelas quais a cultura patriarcal, que assenta num princípio de desigualdade biológica ou socialmente construída (i.e., que postula e naturaliza a diferença de gêneros apelando a uma “essência”), se entrelaça necessariamente com uma cultura de violência contra a mulher. Com efeito, patriarcado e violência não têm uma relação contingente nem casual, mas sim necessária. Em última análise, num contexto moderno capitalista, essa necessidade é tradução de uma imposição do próprio sistema de produção e reprodução ou acumulação de valor. Num segundo momento, esclareço aquilo que todos sabem ou intuem, nomeadamente, os princípios fundamentais que regulam a construção de um projeto democrático. E aqui, entendo “projeto democrático” não só como projeto político, mas “modo de vida”, na linha de John Dewey. Estes princípios são o princípio da igualdade de condições e a defesa de liberdades individuais. A articulação destes dois princípios cria espaço para uma série de discursos: de direitos humanos, de direitos de minorias, de mulheres, entre tantos outros. Porém, a necessidade de criar todos esses discursos e pensar em formas institucionais de traduzi‐los no sistema das práticas apenas revela quão longe estamos da igualdade prometida. No terceiro momento, reflito sobre a relação entre violência, desigualdade e injustiça e tento mostrar como a luta feminista é antes de mais humanista, e democrática de espírito, pois reclama acima de tudo uma transformação nas práticas orientada pela busca de equilíbrio entre diferentes, i.e., entre não‐iguais de fato, mas que se projetam como iguais pelo compromisso que têm com a construção de um mundo comum.
Reproduzindo o valor masculino: patriarcado e violênciaA desigualdade de gênero é geralmente compreendida como herança histórica de uma distribuição desigual e assimétrica de poderes entre homens e mulheres.1 Esta desigualdade estaria necessariamente conectada à violência, porém são poucos os estudos que tentam expor ou tornar visíveis os porquês efetivos desta conexão. Assim, neste momento, eu quero tentar mostrar como a institucionalização e naturalização do patriarcado, na sua relação com o sistema capitalista, conduz a uma reprodução do valor masculino que só se faz à custa da violência contra o seu outro, a mulher.
O termo “patriarca” é primeiramente encontrado no Antigo Testamento, como governo paternal de uma família, tribo ou igreja; “patriarcado” é uma categoria sociológica ou antropológica (mas poderíamos também dizer filosófica e política) a partir da qual se concebe um modo específico de organização social, a saber, uma organização em que o homem mais velho tem a autoridade máxima. Partindo desta definição preliminar, esclareço que não quero aqui trabalhar apenas com esta concepção limitada de patriarcado. Entendo o patriarcado na linha da concepção feminista emergente da segunda vaga do movimento de liberação das mulheres (dos anos 1960 e 1970), a saber, como sistema social de dominação via categoria de gênero (distinto, por isso, das categorias de raça ou classe). Na linha de Maria Mies, entendo o conceito de patriarcado como um conceito “de luta”, já que “o movimento precisava de um termo através do qual a totalidade das relações opressivas e exploradoras que afetam as mulheres pudesse ser expressa, tal como o seu carácter sistemático” (Mies, 1998, p. 37). O patriarcado é assim:
a manifestação e institucionalização da dominação masculina sobre as mulheres e crianças na família, e a extensão da dominação masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. Isto implica que os homens detêm poder em todas as instituições importantes da sociedade e que as mulheres são privadas do acesso a tal poder. Não implica que as mulheres sejam totalmente powerless ou totalmente privadas de direitos, influências e meios (Lee, 2000, pp. 1493‐1497).
Claramente, a concepção feminista de patriarcado, ou as várias teorias feministas de patriarcado, têm raízes que podem ser retraçadas até Marx e Engels, mesmo se a proposta destes autores seja tudo menos clara ou transparente. Marx e Engels proporcionaram um novo recorte de análise sociopolítica e histórica. Nas obras A Ideologia Alemã, Manifesto Comunista e O Capital, entre outras, os autores fazem uma reversão de perspectivas (do ideal para o material), mostrando que: 1) a produção de ideias está diretamente associada à detenção dos meios de produção material, i.e., as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante dessa época;2 2) a categoria do trabalho é central para pensar a consolidação do sistema capitalista, porém, esta consolidação só é possível na medida em que o hipotético consenso ideológico sobre liberdade e igualdade (o discurso de que somos todos iguais para entrar em relações contratuais e somos todos livres para vender a nossa força de trabalho) se conquista à custa de uma acumulação primitiva de capital, i.e., por meios de exploração, dominação, violência e guerra, que transcende qualquer pretensão de legitimidade (e que não pode apelar por isso a um conceito de “natureza humana”); 3) o movimento de progressiva divisão social de trabalho só é possível porque o trabalho se desdobra na sua componente concreta e abstrata, sendo o trabalho abstrato o conceito a partir do qual se projeta a ilusão de “igualdade de condições” (entre os proletários, pelo menos);3 4) este trabalho abstrato é uma figura masculinizada do valor e produção de valor, isto é, o discurso do capital que parece assentar sobre um princípio sexualmente neutro supõe, como sua condição de possibilidade, a adopção de uma grelha conceptual patriarcal, de dominação do homem sobre a mulher, sobre a qual o universal se constrói. O que aparece no mundo do trabalho abstrato assenta em relações existentes e reais, mas tornadas invisíveis, do ponto de vista da nova ideologia que promove a separação entre esfera pública e esfera privada. As mulheres, que haviam sido distinguidas dos homens pela divisão sexual, tornam‐se invisíveis na divisão social do trabalho porque são condenadas a uma esfera “do lar” que é desigual, i.e., que não tem igual estatuto nem pode reivindicar o mesmo direito a aparecer em público.
O patriarca da sociedade capitalista é o desigual eterno que exerce poder e dominação sobre outros que lhe estão necessariamente sujeitos, no sentido de estar sujeitado a, i.e., de não ter condições reais de contestar a autoridade daquele que se lhes impõe. A lógica patriarcal é uma lógica de dominação, física e simbólica, que foi (quase) completamente naturalizada. Como diz Bourdieu:
A força da ordem masculina pode ser aferida pelo fato de que ela não precisa de justificação: a visão androcêntrica se impõe como neutra e não tem necessidade de se enunciar, visando sua legitimação. A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica, tendendo a ratificar a dominação masculina na qual se funda: é a divisão social do trabalho, distribuição muito restrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu lugar, seu momento, seus instrumentos (Bourdieu, 1998, p. 15).
Não iremos aqui desconstruir todas as dimensões de desigualdade. Para o nosso propósito importa sublinhar que esta visão androcêntrica se impôs hegemonicamente; mas o fato desta lógica de desigualdade estar naturalizada não quer dizer que ela seja legítima. Para contestar a legitimidade que ela reclama para si, mesmo que apenas de forma indireta, na medida em que ela se vê a si mesma como “neutra” em relação ao gênero, é preciso confrontar a base sobre a qual ela se constrói. Esta base, penso eu, é o próprio discurso de igualdade e liberdade, caro aos projetos democráticos pós‐revoluções americana e francesa. O convencimento de que somos formalmente iguais anda de mãos dadas com a realidade da desigualdade e da opressão que começa na própria família. Um discurso democrático, i.e., um discurso que tenha pretensões de tornar a democracia um modo de vida efetivo, tem de subverter as suas próprias origens: a busca de uma sociedade emancipada significa o comprometimento com a superação de todas as lógicas de opressão, a começar pela opressão constitutiva do modelo de relações sociais do patriarcado.
Ideais democráticos de igualdade, liberdade… e reciprocidade?Mas, então, o que seria um real compromisso com um projeto democrático? O que significa, na prática, subverter as suas próprias origens?
Entendo por “projeto democrático” não só um projeto político, mas um “modo de vida” na linha de John Dewey. Historicamente, o conceito de “democracia” passou por várias mutações. Mostrei em Modelos Democráticos (Nunes da Costa, 2013) essa evolução, sempre tensa e problemática, a partir do momento em que os ideais da modernidade passam a regular a redefinição do conceito. Na experiência da polis ateniense, liberdade era perfeitamente compatível com desigualdade: só conseguiam ser livres aqueles que se tornavam independentes, se emancipavam do reino da necessidade, i.e., do domínio da satisfação das condições básicas de sobrevivência e subsistência. Por isso, os cidadãos constituíam apenas 10% da população: o cidadão era o homem ilustrado e rico que se podia, literalmente, dar ao luxo de ir para a praça – a agora – discutir as coisas públicas, já que tinha escravos para fazer o trabalho, sem falar nas mulheres. A partir das revoluções americana e francesa o paradigma mudou. A “igualdade de condições” que Tocqueville tão bem caracteriza em Democracia na América torna‐se o ponto de partida, o fator determinante da nova constelação social e política. Se ninguém está pré‐determinado à miséria, se todos podem tornar‐se “iguais”, na medida em que passam a ter direitos formais, então a democracia passa a construir‐se espelhando‐se nesse novo compromisso.
O discurso de igualdade, liberdade e fraternidade é, claro, um discurso de ideais universais, ou de pretensão universal, mas essa pretensão constrói‐se na base da desigualdade do gênero. Marx e Engels demonstram bem como a própria instituição da “família” é uma invenção e quase exclusividade da burguesia. Os autores dizem:
Sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na ausência forçada da família entre os proletários e na prostituição pública.
[…]
O palavreado burguês sobre a família e a educação, sobre os doces laços que unem a criança aos pais, torna‐se cada vez mais repugnante à medida que a grande indústria destrói todos os laços familiares dos proletários e transforma suas crianças em simples artigos de comércio, em simples instrumentos de trabalho (Marx, Engels, 2005, p. 55).
Logo de seguida, vem uma passagem específica sobre as mulheres:
Para o burguês, a mulher nada mais é do que um instrumento de produção. Ouvindo dizer que os instrumentos de produção serão explorados em comum, conclui naturalmente que o destino de propriedade coletiva caberá igualmente às mulheres. Não imagina que se trata precisamente de arrancar a mulher de seu papel de simples instrumento de produção (Marx, Engels, 2005, pp. 55‐56).
Estas passagens são interessantes para o nosso propósito por duas razões. Em primeiro lugar, porque denunciam a farsa do discurso burguês universalista, o que, por sua vez, pode ser interpretado como convite à contestação das instituições que reclamam ser emancipatórias, ao mesmo tempo que dependem das práticas de opressão. Em segundo lugar, porque a mulher, que é reduzida a instrumento de produção, que é oprimida, reprimida, coisificada, mutilada do seu potencial ao ser circunscrita ao âmbito da “esfera privada” com o discurso da “dona do lar” e “mãe de família”, é, pela negação de existência que representa, o agente privilegiado para a subversão do sistema. Por outras palavras, podemos dizer que o papel a que as mulheres foram conduzidas a desempenhar é, simultaneamente, exemplo da opressão da lógica burguesa e capitalista, e elemento crucial na constituição e (possível) sucesso de um movimento de resistência ao capitalismo e ao patriarcado. Embora a opressão das mulheres seja apenas uma de entre muitas outras formas de opressão capitalista, ela é também a mais fundamental, aquela que nos obriga a questionar o estatuto (mesmo que apenas conceptual) da “natureza humana”, do “progresso” e inclusive da transformação social.
Além disso, ou por isso também, percebemos que os vários discursos que surgem concomitantemente às revoluções – direitos humanos, direitos do cidadão, etc. – mostram apenas um lado da realidade: o lado do compromisso teórico que só pode sustentar‐se à custa da naturalização de práticas de violência e desigualdade. Por isso, esses mesmos discursos são a prova viva do que ainda falta concretizar: a reivindicação de universalidade assenta num consenso postulado que é simultaneamente ideal regulador das democracias contemporâneas, a saber, de que toda a vida humana tem dignidade e que não pode ser apenas um meio, e deve ser respeitada e reconhecida como fim em si mesmo, i.e., como tendo valor intrínseco. Esta reivindicação, confrontada com o concreto, com o real, cria um abismo gigantesco aparentemente intransponível. A violência contra a mulher, os números, os fatos, expõem em carne viva, através dos corpos, esse abismo e ao fazê‐lo mostram quão longe ainda estamos de viver numa democracia entendida como sociedade bem‐ordenada regulada pela igualdade, liberdade e, sim, fraternidade, aquela virtude quase esquecida…
Desigualdade, violência e injustiça: porque feminismo é humanismoNeste terceiro momento, reflito sobre a relação entre violência, desigualdade e injustiça, e tento mostrar como a luta feminista é antes de mais humanista, e democrática de espírito, pois reclama acima de tudo uma transformação nas práticas orientada pela busca de equilíbrio entre diferentes, i.e., entre não‐iguais de fato, mas que se projetam como iguais pelo compromisso que têm com a construção de um mundo comum.
Comecei por falar da questão do patriarcado, na medida em que considero que este conceito nos ajuda a sistematizar uma série de problemáticas acerca do gênero e da divisão sexual. Podem chamar‐me a atenção e dizer que discutir questões de gênero é analiticamente distinto de discutir questões específicas de violência contra a mulher. Isso é verdade. Porém, é também verdade que toda a violência é uma violência assente na categoria de gênero, i.e., na ideia de que cada papel se constrói via relações sociais, logo, que são as construções sociais que conduzem e definem o gênero dos atores ou agentes. Assim, “já que a maioria da violência está imersa em relações sociais de poder, e não é realmente arbitrária, a maior parte da violência é gendered (moldada por gênero)” (Wilding, 2012, p. 1).4 Ora, se queremos compreender bem a relação entre discursos e práticas de violência temos de descobrir, no sentido de desvelar, as dinâmicas moldadas pelos papéis de gênero, de homens e mulheres. É nesta reflexão que o abismo entre prática e teoria se desenha; é também através dela que pode nascer a esperança e inspiração de transformação social efetiva. Para isso, quero olhar para um caso específico que pode esclarecer de forma exemplar como este abismo se materializa nas práticas quotidianas, mais precisamente, proponho‐me comparar a conceptualização e práticas de estupro no Brasil e em dois países escandinavos: a Suécia e a Dinamarca.
A realidade do estupro – definições e práticas comparadas entre Brasil, Suécia e DinamarcaO estupro é uma realidade corrente não só do Brasil, mas também de muitos outros países ditos democráticos e “civilizados”. Com efeito, podemos sustentar a tese de que a cultura do estupro é real, pois se manifesta num conjunto de práticas naturalizadas que vão desde as várias formas de discurso (linguagem quotidiana, músicas e ditos populares, mas também manifestações artísticas e culturais) à própria liberdade, ou ausência desta, na movimentação dos corpos nos espaços físicos das cidades.
O artigo 213 do código penal brasileiro define o estupro como a prática de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.5 O referente código estabelece uma distinção analítica entre estupro, violação sexual mediante fraude (artigo 215) e assédio sexual (artigo 216). Enquanto a classificação de estupro requer violência ou grave ameaça, a violação sexual requer fraude, e o assédio sexual aplica‐se a casos em que um indivíduo utiliza a sua condição de superior hierárquico ou ascendência para obter relações sexuais. No caso do assédio não há violência nem grave ameaça, como nos anteriores. Por sua vez, o estupro, consumado ou tentado, é considerado crime hediondo e contempla penas de 6‐10 anos (caso entre maiores de idade); 8‐12 anos (se a conduta resulta em lesão corporal grave ou se a vítima tem entre 14‐18 anos) ou de 12‐30 anos, caso a conduta resulte em morte.
De acordo com o 9.° Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em 2014, o Brasil registrou 47,643 casos de estupro.6 Considerando somente os boletins de ocorrência registrados, em 2014 aconteceu um estupro a cada 11 minutos no Brasil. De acordo com pesquisa realizada pelo Datafolha, a pedido do FBSP, em 84 municípios brasileiros com mais de 100 mil pessoas, 67% dos brasileiros têm medo de ser vítima de agressão sexual. O número é menor entre os homens (42%) e expressivamente maior entre as mulheres (90%). A pesquisa também detectou que esse medo é menor no sul, atingindo 61% da população local, e maior no nordeste, atingindo 74% da população. A pesquisa revela ainda outra relação, nomeadamente, a relação entre o medo de ser vítima de agressão sexual e a renda dos brasileiros. Este medo afeta 75% daqueles com rendimentos de até dois salários mínimos (SM); 66% dos brasileiros com renda entre 2‐5 SM; 54% dos que têm renda entre 5‐10 SM; e 53% dos que ganham mais de 10 SM.
O que os números nos dizem? Que a grande maioria das mulheres têm medo de ser agredidas sexualmente, e que esse medo é maior entre as mulheres que têm uma renda menor. De onde vem esse medo? E como transformar esse medo em resistência e luta?
O medo reflete essa cultura patriarcal, essa lógica de dominação em que o homem teve até muito recentemente total domínio sobre a mulher. Só com a Constituição de 1988 é que a mulher passa a ter “igualdade de funções” no âmbito familiar; até aos anos 1970 debatia‐se se o marido poderia ser sujeito ativo do crime de estupro, já que era dever da mulher cumprir com as suas funções e manter relações sexuais. Até 2009, ou seja, até há apenas oito anos, o estupro era tipificado como crime de ação privada contra os costumes. Segundo Menicucci et al., o crime seria a “agressão à sociedade por intermédio do corpo feminino. É como se o homem (pai ou marido) fosse tocado em sua integridade moral pela violência sexual vivenciada pela mulher” (Menicucci et al., 2005, p. 377, cit. em Cerqueira et al., 2014). A partir da sanção da Lei n.° 12.015, o estupro passa a ser um crime contra a dignidade e liberdade sexual. Isto significa que só há oito anos foi reconhecido o direito à igualdade no que diz respeito ao fundamento da própria democracia: a dignidade da pessoa humana.
Comparemos agora o Brasil, onde há uma relação necessária entre desigualdade (social, econômica) e violência, com países de tradição mais igualitária, que são vistos como exemplares no tratamento do gênero, por exemplo, Suécia e Dinamarca. Intuitivamente supomos que nos países nórdicos não há tanto estupro nem tanta violência contra a mulher. Olhemos agora para os números: na Dinamarca, um país com 5.6 milhões de habitantes, com um coeficiente de Gini7 de 0.27 e com o quarto maior índice de desenvolvimento humano (IDH), todos os dias oito mulheres são estupradas – claro, nada comparado com uma mulher a cada 11 minutos no Brasil. Mas, mesmo assim, apenas uma minoria dos casos são denunciados (aproximadamente 10%). Na Suécia a situação é ainda pior. A Suécia é, atualmente, o segundo país do mundo com mais estupros. Nos dois países, os relatórios ou registros de estupro não mencionam a “origem” dos estupradores, e isto porque a segunda‐geração de imigrantes é absolutamente integrada como “dinamarquesa” ou “sueca”. Porém, sabemos que é um problema real, na medida em que filhos de imigrantes e atuais imigrantes de países do Médio‐Oriente têm uma cultura distinta e promovem um tratamento diferente relativamente à mulher. Os dois países, considerados há poucas décadas como os mais seguros do mundo, tornaram‐se os dois países onde a probabilidade de estupro é mais elevada na Europa.8
O que fica a partir destas reflexões? Para poder fazer uma comparação entre Brasil, por um lado, e Dinamarca e Suécia por outro, é preciso partir da forma como cada um define “estupro”. Vimos a definição do código penal brasileiro. Que diferenças existem entre a definição brasileira e a dinamarquesa e sueca?
O código penal sueco define estupro no capítulo 6, secção 1, da seguinte forma:
Uma pessoa que, mediante agressão ou violência de outra forma, ou ameaça de um ato criminoso, obriga outra pessoa a ter relações sexuais ou a assumir ou suportar outro ato sexual que, tendo em conta a natureza da violação e as circunstâncias em geral, é comparável a relações sexuais, deve ser condenada a prisão por estupro por pelo menos dois e no máximo seis anos.
Isso também aplica se uma pessoa se envolver com outra pessoa em uma relação sexual ou em um ato sexual que, de acordo com o primeiro parágrafo, seja comparável à relação sexual, aproveitando indevidamente o fato de que a pessoa, por inconsciência, sono, intoxicação ou outra influência de drogas, doença, lesão física ou perturbação mental, ou de outra forma em vista das circunstâncias em geral, está em um estado indefeso (meu itálico).9
Comparando com a definição brasileira, percebemos que “estupro” no contexto sueco tem uma definição muito mais ampla, cobrindo situações que, no caso brasileiro, não estão explicitamente consideradas. Isso torna possível defender a tese de que, embora o número de estupros seja elevado na Suécia, isso apenas reflete uma maior igualdade de gênero subjacente à formulação das leis, traduzida na expansão do significado do conceito e práticas de estupro. Por sua vez, o código penal dinamarquês tem uma leitura mais restrita de estupro, quando comparada à Suécia. O capítulo 24 do código penal dinamarquês estipula que:
1) Qualquer pessoa que impõe relações sexuais por violência ou sob ameaça de violência, será culpada de estupro e suscetível de prisão por qualquer termo que não exceda oito (8) anos. A colocação de uma pessoa em tal posição para que seja incapaz de resistir ao ato será equivalente à violência.
2) Se o estupro tiver sido de natureza particularmente perigosa, ou em circunstâncias particularmente agravantes, a pena para prisão pode ser aumentada por qualquer período não superior a doze (12) anos.10
O estupro contempla estupro por desconhecido/a, por conhecido/a e por parceiro/a. Distinto do paradigma sueco, na Dinamarca, na hipótese de a pessoa estar embriagada, inconsciente ou incapaz de reação, o caso não é considerado no escopo de “estupro” mas antes de “ofensa sexual” (Amnesty, 2006, p. 18).
Apesar dos países nórdicos terem alcançado historicamente uma maior igualdade de gênero no mercado de trabalho, esfera pública e participação política, seria ingénuo pensar que estes países estão imunes à lógica de dominação da qual o Brasil se torna exemplar, sobretudo se considerarmos a realidade do estupro nestes países. Com efeito, “a violência continuada contra as mulheres evidencia as relações desiguais de poder entre homens e mulheres (ainda prevalecentes] nos países nórdicos” (Amnesty, 2006, p. 11, minha tradução).
Retornando ao caso brasileiro, começam a fazer‐se estudos empíricos de maior âmbito territorial, embora haja cautela na escolha das metodologias, de forma a que os “dados” obtidos sejam verosímeis. Não é necessário entrar nesse debate, nem saber ao certo quantos estupros acontecem no Brasil, na Suécia, na Dinamarca ou outros países do mundo, por dia ou por ano. Obviamente, dizer que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil é chocante, mas mais chocante é reconhecer essa permissibilidade cultural, essa cegueira institucional e humana. Se estes são fatos, porque só há oito anos a mulher foi reconhecida como “igual” e como pessoa moral com dignidade? Isso é o chocante. O estupro é apenas consequência dessa lógica. Por isso, o nosso desafio não é simplesmente “como evitar o estupro”, ou como proteger as mulheres; pelo contrário, o discurso é mais amplo e mais poderoso: como atualizarmos na prática a igualdade – uma igualdade que é simultaneamente cega aos particulares, i.e., entre homens e mulheres, mas que é uma igualdade existencial, sentida, incarnada nos corpos dos homens e das mulheres? Por outras palavras, o nosso desafio é tornarmo‐nos iguais a partir de uma realidade extremamente desigual e violenta, não esquecendo que há uma relação entre violência e desigualdade. Desigualdade de quê ou em quê?
Um dado importante, e que explica a necessidade de repensar a família, é que o estuprador é, em 70% dos casos, um parente, namorado ou amigo da vítima. O número só desce na idade adulta. Isto indica que a violência começa dentro de casa, da “esfera privada”, essa “esfera” que reproduz um modelo de relações sociais totalmente assimétricas e desproporcionais, onde a mulher é sempre inferiorizada em relação ao homem, onde a criança se encontra indefesa perante a autoridade moral do pai ou pessoa mais velha, e indefesa perante a força física de um adulto. Então, a desigualdade aqui é uma desigualdade multifacetada, uma desigualdade que se desdobra em várias camadas, começando pela flagrante desigualdade enquanto “pessoa” moral – aparentemente, até as leis retratavam a mulher de forma objetivada, reproduzindo a lógica patriarcal onde a mulher deve ser submissa aos desejos e vontades do marido. Ora, se a mulher só agora se está a tornar “pessoa” moral, isso significa que historicamente (e uma história bem recente) ela sempre foi vista como desigual, i.e., como diferente e inferior. Se é desigual, é impossível haver reciprocidade ou reconhecimento, já que estas dimensões requerem a igualdade como ponto de partida. Isto sugere que qualquer luta ou discurso considerado feminista – mas que na verdade começa como discurso humanista ou, ainda melhor, democrático – de defesa dos direitos das mulheres, se constrói num horizonte onde esses direitos não são realmente reconhecidos.
Estupro, família e a (não) democraciaIsto conduz‐nos novamente ao problema da democracia. As revoluções americana e francesa abriram espaço para a redefinição do conceito de democracia, via lente de “igualdade de condições”; elas também abriram para a consolidação de duas visões do mundo distintas, mesmo se ambas potencialmente democráticas, a saber, a visão liberal e a republicana. A primeira assenta na defesa prioritária dos direitos individuais, parte do indivíduo pensado como sujeito/ator indivisível, solitário, centro do mundo; a segunda assenta na postulação de um bem comum, da coisa pública, a partir da qual os indivíduos se definem politicamente enquanto cidadãos. Sabemos que liberalismo e republicanismo sempre viveram em tensão. Em 1971, Foi Rawls tentou repensar a relação entre estas duas tradições marcantes em Uma Teoria da Justiça. Nesta obra, Rawls situa‐se na tradição contratualista de Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, mas leva‐a a um nível mais elevado de abstração, com o intuito de usar a hipotética situação original (correspondente ao estado de natureza) para identificar princípios fundamentais de justiça. Estes princípios regulariam, por sua vez, toda a construção social e política de uma comunidade. A novidade em Rawls é que ele parte de uma redefinição do conceito de justiça. Contrariamente aos autores da sua tradição, Rawls não pensa a justiça a partir do individuo, i.e., como atributo ou juízo acerca de ações individuais, mas sim a partir de instituições, como “justiça social”. Rawls diz:
[a] justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento. […] Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem mesmo o bem‐estar da sociedade como um todo pode ignorar. Por essa razão, a justiça nega que a perda da liberdade de alguns se justifique por um bem maior partilhado por outros. Não permite que os sacrifícios impostos a uns poucos tenham menos valor que o total maior das vantagens desfrutadas por muitos. Portanto numa sociedade justa as liberdades da cidadania são consideradas invioláveis: os direitos assegurados pela justiça não estão sujeitos à negociação política ou ao cálculo de interesses sociais (Rawls, 2000, pp. 3‐4).
Percebemos imediatamente que Rawls se posiciona contra a hegemonia do utilitarismo no que diz respeito à ordenação da sociedade. Uma sociedade só é bem‐ordenada quando promove o bem dos seus membros e partilha uma concepção de justiça, i.e., quando na sociedade em questão “1) todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de justiça e 2) as instituições sociais básicas geralmente satisfazem, e geralmente se sabe que satisfazem esses princípios” (Rawls, 2000, p. 5). Isto sugere que a teoria proposta por Rawls – teoria como equidade – é deontológica e não teleológica, isto é, ela deriva o seu valor não pelos fins atingidos, mas pelos princípios que regulam a ação, o que por outras palavras significa que em Rawls há uma prioridade do justo sobre o bem. Todos os interesses que violem a justiça não têm qualquer valor (Rawls, 2000, p. 34).
Porquê a justiça social e não justiça tout court? Porque o objeto primário da justiça é “a estrutura básica da sociedade”, isto é, “a maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a divisão de vantagens provenientes da cooperação social” (Rawls, 2000, pp. 7‐8). Que instituições? A constituição política, os principais acordos económicos e sociais, mas também a família. E é para esta família que eu quero olhar.
Rawls parte do paradigma da família monogâmica e no capítulo VIII sobre “O senso de justiça”, parágrafo 69 (sobre “o conceito de sociedade bem‐organizada”), Rawls diz que quer tentar entender como os sentimentos morais se constituem, já que estes são elementos “necessários para garantir que a estrutura básica seja estável no que se refere à justiça” (Rawls, 2000, p. 508). Ora, o senso de justiça aprende‐se, isto é, ele é desenvolvido ao longo do processo de crescimento das crianças e dos jovens. A família é a primeira instituição que a criança conhece; essa instituição sustenta‐se apelando e/ou reconhecendo a autoridade legítima dos seus pais. Mesmo que questionemos o “modelo de família”, a dinâmica é esta, independentemente da proposta que se faça. A criança não questiona nem a autoridade nem a legitimidade ou justificativa das orientações dos seus pais. Rawls diz ainda que temos que supor que os princípios que orientam a vida familiar estão em sintonia com os princípios gerais da sociedade e o “senso de justiça”, e que, para além disso, a criança cresce num ambiente de amor desinteressado e incondicional, o que, por sua vez, gera confiança e bem‐estar, i.e., autoestima: “É no curso de todo esse processo que se desenvolve a afeição da criança por seus pais. Ela os liga ao sucesso e à satisfação que teve em construir o seu mundo e ao senso que tem de seu próprio valor. E disso nasce o seu amor por eles” (Rawls, 2000, p. 515). A moralidade de autoridade na esfera familiar, privada, é apenas um passo no desenvolvimento da individualidade. Temos de confrontar ainda a moralidade de grupo, que:
é ditado pelos padrões morais adequados ao papel do indivíduo nas várias associações às quais pertence. Esses padrões incluem as regras da moralidade ditadas pelo senso comum, juntamente com os ajustes necessários para adequá‐las à posição particular de um indivíduo; e são impressos nele pela aprovação ou pela desaprovação daqueles que detêm a autoridade, ou pelos outros membros do grupo (Rawls, 2000, p. 518).
Por outras palavras, comportamentos ou indivíduos são virtuosos devido à coincidência com expectativas de outrem (pais ou grupos), i.e., à adequação com essas expectativas que geram aprovação social (ou desaprovação, quando são inadequadas).
Toda esta digressão por Rawls tem um objetivo: mostrar quão longe estamos deste modelo e prática sociopolítica comprometida com uma concepção de justiça social. Em primeiro lugar, observamos que a violência começa na esfera privada, no âmbito da família. Aqui, a violência é maioritariamente do homem sobre a mulher, i.e., é uma violência baseada no género. Em segundo lugar, porque as “regras da moralidade ditadas pelo senso comum” no Brasil parecem violar o seu próprio projeto politico enquanto nação democrática: afinal, as próprias leis reproduzem a lógica da desigualdade das mulheres, mesmo quando parecem querer compensar ou superar essa desigualdade. Mas, claro, podemos perguntar o que é afinal esse “senso de justiça”? O senso de justiça é, para Rawls, uma das condições necessárias e manifesta‐se pelo menos de duas maneiras:
Primeiro, nos leva a aceitar as instituições justas que se aplicam a nós e das quais nós e nossos consócios nos beneficiamos. […] Em segundo lugar, um senso de justiça fomenta uma disposição de trabalhar em favor (ou pelo menos de não trabalhar contra) a construção de instituição justas, e no sentido de reformar as instituições existentes quando a justiça o exija (Rawls, 2000, p. 526).
Tudo isto parece falhar: nem nós reconhecemos uma convergência entre uma hipotética concepção de justiça e sua implementação institucional, nem vemos a reforma das instituições existentes ser feita de acordo com um ideal de justiça ou senso de justiça comum.
O que eu quero enfatizar é que aquilo que inicialmente aparece como preocupação fundamental acerca dos princípios de justiça “objetivos”, isto é, exequíveis, que podem ser traduzidos em práticas institucionais, supõe na realidade uma grelha existencial anterior, construída no âmbito da família e que se prende com o desenvolvimento dos sentimentos morais fundamentais, a saber, um senso de justiça por um lado, e o amor à humanidade, por outro (Rawls, 2000, p. 532). Mas, e quando tudo isto falhar? Quando os indivíduos não reconhecem esses princípios? E quando um agressor não perceber que há um problema na agressão? E quando o estuprador não vê nada de errado no estupro? Quando ele não se sente culpado, quando ele não sente remorso, quando o seu comportamento assume formas perversas e destrutivas, que mutilam a própria esperança? Rawls diz que as pessoas que não têm um senso de justiça são pessoas a quem “faltam certas atitudes naturais e sentimentos morais de um tipo particularmente elementar. Em outras palavras, um indivíduo que não tem um senso de justiça também não tem certas atitudes e capacidades fundamentais que se incluem na noção de humanidade” (Rawls, 2000, p. 342). Mas como desenvolver esses sentimentos morais? Claramente, estamos numa situação que pode parecer circular – as instituições que criam e definem os horizontes físicos e simbólicos do nosso mundo social constroem‐se a partir de um compromisso com determinados princípios; os comportamentos, ações e intenções dos “outros” são reconhecidos, ou melhor é‐lhes atribuído sentido, na medida em que eles se adequam ou não ao critério de correção (e, em última análise, de justiça) definido institucionalmente. Não interessa saber se os sentimentos morais são inatos ou pré‐determinados por mecanismos psicológicos. Ao mesmo tempo, se pudéssemos de fato escolher os princípios nesta hipotética posição original, onde os participantes se encontram sob um véu de ignorância, eliminando possíveis divergências nos critérios que orientam essa escolha, então esses princípios seriam reconhecidos por todos. Mas é exatamente aqui que está a falha: a escolha dos princípios em teoria, por exemplo, a constituição, não se desdobra nem nas outras instituições fundamentais, nem nas suas práticas. E, mais uma vez, a prova está na ausência de leis que efetivamente garantam um respeito e reconhecimento da integridade e dignidade da mulher. Enquanto isto não acontecer, o projeto democrático parece estar condenado ao fracasso, porque a famosa igualdade de condições continua apenas a mascarar a lógica de opressão dos homens sobre as mulheres. Esta lógica está presente em tudo: não só nas leis, não só nos ditos populares, mas na literatura, na música, na “moda”, na gíria ou linguagens alternativas que se vão inventando. Temos muitos exemplos.
A lógica de opressão como práticaTomemos o exemplo música. Muitos membros de bandas, sobretudo de funk, mas não só, estão envolvidos em práticas de violência contra a mulher. Não preciso citar nomes; todos devem conhecer pelo menos um exemplo. Claro que o incentivo ao estupro ou à violência contra a mulher não é exclusividade nem monopólio do Brasil. Nos EUA é tão comum como no Brasil, ou em qualquer outro país que partilhe a grelha conceptual do “Ocidente” e isso passa despercebido, mascarado, por se achar que quem canta é simpático e atraente. Vejam o exemplo da música Animals dos Maroon 5. A letra é escandalosa, narrando a perspectiva de um stalker (perseguidor).11 Diz a letra:
Querida, estou te apanhando hoje à noite / Caçar‐te, comer‐te viva / Assim como animais, animais, como animais
Talvez você pense que você pode se esconder / Eu posso cheirar seu cheiro de milhas / Assim como animais, animais, como animais
Querida, eu sou
Então, o que você está tentando fazer comigo / É como se não pudéssemos parar, fôssemos inimigos / Mas nós nos damos bem quando estou dentro de você / Você é como uma droga que está me matando / Eu cortei você inteiramente / Mas eu fico tão extasiado quando estou dentro de você
Sim, você pode começar de novo, você pode fugir / Você pode encontrar outros peixes no mar / Você pode fingir que assim está destinado a ser / Mas você não pode ficar longe de mim / Eu ainda posso ouvir você fazendo esse som / Pegando‐me para baixo, rolando no chão / Você pode fingir que era eu / Mas não [tradução do editor].12
A letra desta música é um exemplo da lógica de dominação masculina ou patriarcal sobre a mulher. A violência aparece completamente naturalizada e é culturalmente aceite (caso não fosse, duvido que fosse criada ou aparecesse); a letra trabalha sobre a ideia fundamental de que as mulheres querem ser violentadas, que pedem esta violência, que a violência faz parte do “jogo” do relacionamento, do sexo, do prazer ou do amor.
Outro exemplo é a música de Robin Thicke, “Blurred Lines”. A letra diz:
Ok, agora ele estava perto, tentou domesticar você / Mas você é um animal, querida, é a sua natureza / Deixe‐me liberar você […] E é por isso que eu vou levar uma boa garota / Eu sei que você quer / Eu sei que você quer / Eu sei que você quer / […] Você, a cadela mais quente neste lugar / Mas você é uma boa garota / A maneira como você me agarra / Deve querer chafurdar na porra […] Não muitas mulheres podem recusar meu borogodó [tradução do editor].13
Esta música ganhou prémios, ou seja, ela foi absolutamente reconhecida e aprovada, e, com isso, trouxe mais uma aprovação para as práticas e incentivos a práticas de violência contra a mulher, onde o sexo é mera mercadoria e onde as relações humanas são reduzidas a trocas impessoais. Sabe‐se por experiência que qualquer luta por emancipação, no sentido de superação da dominação ou opressão, implica uma representação positiva do grupo em causa. Muitos estudos na área de teoria feminista e crítica cultural demonstram como as produções culturais hoje perpetuam o status quo, pois partem do “olhar do homem” sobre a mulher, e onde a mulher se define na busca incessante para coincidir com as expectativas e desejos dos homens.
Estas músicas, como milhares de outras, criam e reproduzem um contexto para a própria reprodução da violência de gênero.
Não pensemos que só os homens traduzem esta postura nas suas músicas. As mulheres repetem o mesmo, promovem uma cultura de degradação da sua própria imagem, contestam a sua autonomia e os seus direitos objetivando‐se deliberadamente (ou não tão deliberadamente, já que reproduzem apenas o que é “dado”). Vejam as músicas de Katy Perry ou Taylor Smith que, afinal, estão sempre no topo dos charts e são consumidas desenfreadamente por adolescentes.
Claro que estas não são as únicas músicas; há músicas e vários tipos de produção cultural que contrariam isto, que sublinham e reforçam a dignidade, humanidade e integridade humanas nas suas múltiplas facetas. Com efeito, a música popular deve ser vista como espaço de contestação da ordem estabelecida, e até como espaço de ativismo político e social. Mas, para isso, é preciso que o meio seja usado para desconstruir e reconstruir efetivamente as identidades de gênero e as ideologias culturais que tenham cooptar esses esforços, integrando‐os novamente na lógica globalizante e totalizadora do sistema e da ideologia dominante patriarcal, em que a subversão se materializa na reprodução do mesmo.
Reflexões finaisO que retiramos destas reflexões? Penso que a lição clara que se constrói a partir da identificação das relações entre violência, desigualdade, injustiça, democracia e gênero é que a democracia ainda não se concretizou. Esta constatação traduz‐se no reconhecimento de que nós temos o dever de continuar a lutar por ela. E lutar por ela é lutar por nós, mulheres. Feminismo é, antes de mais, humanismo. O que quero dizer com isto?
Uma leitura dominante do “humanismo” é aquela que enfatiza a prioridade dos “direitos iguais”, isto é, que acima de tudo o que está em causa em todos os “ismos” é a defesa pela igualdade. Isto sugere que os vários “ismos” seriam assimilados pelo humanismo. Afinal, não seria preciso ser feminista para ser humanista. Mas o que defendo é distinto desta posição, na medida em que não se reduz a ela. Tentei mostrar como o discurso de universalidade (e humanidade) se construiu a partir da exclusão e da lógica de opressão sobre as mulheres. No entanto, há um valor que me parece crucial manter no centro de qualquer projeto igualitário, liberal e democrático, a saber, o valor da dignidade humana. Assim, dizer que feminismo é humanismo é afirmar a necessidade de lutar, em primeiro lugar, pela dignidade. Se esta dignidade existe como propriedade essencial ou é construída socialmente é indiferente. Na verdade, parece que ela tem ainda de ser construída, já que vários acontecimentos no mundo denunciam a realidade de que, afinal, nem todas as vidas merecem ser vividas, apesar dos discursos dizerem o oposto. O fato da dignidade ter de ser construída ou traduzida nas práticas da nossa sociedade é um convite à reinvenção da democracia. Afinal, há duas condições essenciais e necessárias para que qualquer projeto democrático resulte numa “sociedade bem ordenada”, isto é, numa sociedade justa: a condição da dignidade, i.e., do valor intrínseco da pessoa humana e a condição do pluralismo. Com a primeira, vem a base para um projeto igualitário, “humanista”. Com a segunda, vem a construção ou reconhecimento de um espaço de diferenças, de dissenso e de lutas (lutas entendidas como lutas por objetivação de sentido às práticas desenvolvidas, definição de narrativas dominantes, de lentes conceituais).
Ao mesmo tempo que a afirmação feminismo é humanismo parece convidar a uma simplificação da causa e do discurso, a segunda dimensão do projeto democrático implica a leitura inversa, de que humanismo é feminismo. Porquê? Porque se a democracia é a busca permanente de igualdade (o movimento dialético de tornarmo‐nos iguais) num horizonte de dissenso (luta de narrativas) só haverá real democracia quando forem superadas e transformadas todas as formas de opressão e dominação. Esta transformação não é (apenas) a superação do sistema capitalista, mas sim a superação da lógica patriarcal, o que, por outras palavras, significa a luta pela igualdade de gênero, já que o “gênero” é a categoria mais fundamental, transversal a todas as outras (classe, raça, etc.), onde tudo converge. Só há justiça onde há reconhecimento e só há reconhecimento onde há igualdade. Os desiguais não se reconhecem.
Como lutar por esta igualdade? Continuando a fazer o que já está sendo feito. Indo para a rua, denunciando, resistindo.14 Tornando‐nos conscientes na linguagem que usamos, do que dizemos, de como agimos, do que aceitamos irrefletidamente, por criação; tornando a nossa ação individual exemplo de compromisso e luta. A transformação começa pela consciência das tensões, das contradições de onde vivemos e de como somos, i.e., de como criamos a nossa própria subjetividade. Essa consciência tem necessariamente de traduzir‐se, num momento inicial, como recusa: recusa do que é, do que se produz, nas músicas, na moda, na cultura popular, nos discursos, na linguagem, na forma como nos relacionamos. A recusa vai criar espaço para o momento seguinte. O que vai preencher esse espaço ou esse vazio ainda não sabemos, porque estamos no meio do processo. Mas acredito que aquilo que começa por recusa se transforma em afirmação, em criação do novo. E o novo – o admirável mundo novo da democracia e igualdade nas diferenças – começa por nós, mulheres.
Referências onlinehttp://speisa.com/modules/articles/index.php/item.1255/denmark‐at‐least‐eight‐rapes‐every‐day.html. Acesso a 10 de junho de 2016.
AZLyrics–Lyrics from A to Z”. AZLyrics–Song Lyrics from A to Z. N.p., 2000. http://www.azlyrics.com/. Acesso a 12 de junho de 2016.
Ver a Declaração sobre Eliminação de Violência contra as Mulheres, de 1993, Nações Unidas.
A revisão por pares é da responsabilidade da Universidad Nacional Autónoma de México.
Marx diz “As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante.” (Marx e Engels, 2016, p. 47).
“Somente no interior de sua troca os produtos do trabalho adquirem uma objetividade de valor socialmente igual, separada de sua objetividade de uso, sensivelmente distinta. Essa cisão de produto do trabalho em coisa útil e coisa de valor só se realiza na prática quando a troca já conquistou um alcance e uma importância suficientes para que se produzem coisas úteis destinadas à troca (…)” (Marx, 2015, p. 148).
Minha tradução.
Ver http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007‐2010/2009/lei/l12015.htm. Acesso a 20 de fevereiro de 2017.
O FBSP acredita que devam ter ocorridos entre 136.1 mil e 476.5 mil estupros no Brasil em 2013. A projeção mais “otimista” se baseia em estudos internacionais, como o “National Crime Victimization Survey (NCVS)", que apontam que apenas 35% das vítimas desse tipo de crime costumam prestar queixas. Já a pior previsão, e provavelmente mais próxima da realidade, se apoia no estudo “Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde” do Ipea, que aponta que no Brasil, apenas 10% dos casos de estupro chegam ao conhecimento da polícia. Disponível para consulta no site www.forumseguranca.org.br
O coeficiente de Gini é o indicador de desigualdade na distribuição do rendimento, onde zero é a distribuição mais igual e um a mais desigual. Dados em http://www.pordata.pt/Europa/Índice+de+Gini+(percentagem)‐1541, referente a 2014. Acesso a 11 de junho de 2016. Comparativamente, o Brasil está entre os países com mais desigualdade no mundo, com 0.527 de índice de Gini, ao lado da África do Sul (0.593) e Namíbia (0.707). Ver também http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto‐lei/Del2848compilado.htm. Acesso a 12 de junho de 2016.
Assim, 40 anos depois do parlamento sueco ter decidido transformar o país relativamente homogêneo da Suécia num país multicultural, o crime violento aumento 300% e os estupros 1.472%. Ver também http://www.forumseguranca.org.br. Acesso a 12 de junho de 2016.
Continua dizendo que: “Se, em vista das circunstâncias associadas ao crime, um crime previsto no primeiro ou segundo parágrafo é considerado menos grave, uma pena de prisão no máximo de quatro anos será imposta por estupro. Se um crime previsto no primeiro ou segundo parágrafo for considerado obsceno, uma pena de prisão por pelo menos quatro e no máximo dez anos será imposta por estupro grave. Ao avaliar se o crime é obsceno, deve ser dada especial atenção à questão de saber se a violência ou ameaça era de natureza particularmente grave, ou se mais de uma pessoa agredia a vítima ou de qualquer outra forma tomou parte no assalto, ou se em relação ao método utilizado o autor cometeu ou de outra forma exibiu particular crueldade ou brutalidade”. Dados de “National Analysis Sweden”, em http://www.womenlobby.org/?lang=en. Acesso a 20 de Fevereiro de 2017 [tradução do editor].
Tradução do editor.
Ver artigo interessante do Grupo de Direitos Humanos, desconstrução e Poder Judiciário em http://www.grupoddp.com.br/Maroon5.php. Acesso a 12 de junho de 2016.
Baby, I’m preying on you tonight / Hunt you down eat you alive / Just like animals, animals, like animalsMaybe you think that you can hide / I can smell your scent from miles / Just like animals, animals, like animalsBaby, I’mSo what you trying to do to me / It's like we can’t stop we’re enemies / But we get along when I’m inside you / You’re like a drug that's killing me / I cut you out entirely / But I get so high when I’m inside youYeah, you can start over, you can run free / You can find other fish in the sea / You can pretend it's meant to be / But you can’t stay away from me / I can still hear you making that sound / Taking me down, rolling on the ground / You can pretend that it was me / But no.
OK, now he was close, tried to domesticate you / But you’re an animal / Baby, it's in your nature / Just let me liberate you […] And that's why I’m gon’ take a good girl / I know you want it / I know you want it / I know you want it, / […] You the hottest bitch in this place / But you’re a good girl / The way you grab me / Must wanna get nasty […] Not many women can refuse this pimpin.