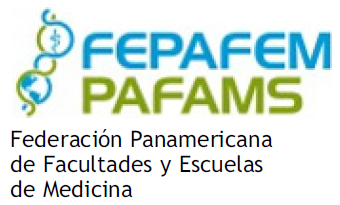«Curar algumas vezes, aliviar com frequência, confortar sempre». Essa clássica afirmação, que resume a função do médico, apresenta‐se numa ordem que encerra um equívoco educacional importante. O que se pode esperar quando a ordem recomendada para a atuação do médico é curar, aliviar e, em último caso, confortar? O lógico é pensar que se avança do mais importante para o detalhe. Quando não se consegue curar é preciso aliviar; e quando o alívio não é possível, resta providenciar conforto. Proceder nessa sequência fatalmente apresenta o alívio e o conforto como um prêmio de consolação para o médico que se deparou com uma doença incurável, dolorosa, terminal. O produto resultante desse processo equívoco – o médico – apresenta deficiências importantes. O autor faz uma extensa reflexão sobre a formação humana e técnica do médico. Inicia‐se com as advertências que chegam do paciente, aborda o tema do erro médico, para adentrar‐se no terreno necessário do sofrimento e da morte, cenários que o médico deve palmilhar na sua formação porque farão parte da sua atuação profissional. Adverte, a seguir, como assumir a postura correta nesse cenário requer uma antropologia médica de caráter prático, impregnada de valores filosóficos e perpassada pela ética. A reflexão desemboca sobre a medicina como ciência e arte que, também, facilita a prática dos cuidados paliativos com a competência requerida. A modo de conclusão, o autor propõe um giro hipocrático‐copernicano na educação médica, para evitar esse equívoco que rende importantes deficiências formativas. Enquanto confortar é algo que deve ser feito sempre, pela altíssima prevalência, o curar apresenta uma prevalência muito menor. O processo da educação médica deve contemplar essa proporção para produzir melhores médicos. Médicos que sempre sabem confortar e que, segundo os casos e as moléstias com as que se deparam, também sabem curar quando é possível. Quer dizer, a ordem dos fatores altera o produto. A introdução dos cuidados paliativos de modo formal no curriculum médico facilitará alterar a ordem desses fatores.
“To heal sometimes, to relieve frequently, to comfort always.” This classic statement, summarising the doctor's role, is presented in a sequence that leads to an important educational error. What can be expected when the recommended order for the doctor's role is to cure, relieve and, ultimately, comfort? The logic is to think that we move from the main issue to the lesser one, to the details. When healing is not possible it can at least be relieved, and if it cannot be relieved, providing comfort still remains. To proceed in this sequence inevitably presents relief and comfort as a consolation prize to the doctor who was faced with an incurable, painful, and terminal disease. The resulting product of this process misconception ‐the physician‐ has important deficiencies. The author makes an extensive reflection on human and technical aspects of medical education. The reflection starts with the warnings coming from the patient, the doctor's mistakes, and enters into the necessary land of suffering and death, those scenarios that doctors should learn in their training, as they will be part of their professional activities. To assume the correct posture in this scenario requires a practical medical anthropology, imbued with philosophical values, and permeated by ethics. The reflection then leads to medicine as a science and art that also leads to the practice of palliative care with the required competence. As a conclusion the author proposes a Hippocratic‐Copernican shift in medical education, to avoid this misconception that yields important training deficiencies. While comfort is something that should always be given due to its high prevalence, the cure has a much lower prevalence. The medical education process should include this ratio to produce better doctors. Doctors must always know how to comfort and, depending on the circumstances and the diseases with which they encounter, they also should heal when cure is possible. That means, the order of the factors changes the product. The introduction of Palliative Care in the medical curriculum could facilitate change in the order of these factors.
«Curar algumas vezes, aliviar com frequência, confortar sempre». Essa é a função do médico. Afirmação famosa, repetida infinidade de vezes, creditada a professores, líderes e expoentes máximos da medicina. Até o próprio Hipócrates já foi feito titular da conhecida sentença. Poderia até ser possível, mas algo me diz que o pai de medicina não teria simplificado a função do médico, e muito menos enunciado o conhecido postulado nessa ordem. Na antiga Grécia, era pouco o que se podia curar e muito o que devia se aliviar com conforto. Gosto de imaginar que Hipócrates teria formulado o aforismo em ordem inversa. Desse giro, que mais do que hipocrático é quase copernicano, surge a inspiração para escrever estas linhas.
É notório o progresso técnico da medicina, algo que conseguimos apalpar diariamente. Quando eu me formei, 35 anos atrás, não tinha sido isolado o vírus HIV e os casos que surgiam eram de evolução fatal vertiginosa. As leucemias e os outros canceres do sistema sanguíneo matavam em pouco tempo mais de 90% dos pacientes acometidos. Hoje, com a utilização dos retrovirais, pacientes soropositivos vivem décadas; e curam‐se as leucemias em proporção inversa aos que morriam anteriormente. Um progresso inegável que devemos agradecer. Não há como negar que a medicina está curando muito mais do que antes.
Evidentemente, as pessoas continuam morrendo. Esse é o destino do ser humano. Mas o corte no tempo – neste tempo que eu, médico, intervenho munido de modernos recursos diagnósticos e terapêuticos –, faz inevitavelmente pensar que conquistamos terreno na luta contra a morte. De fato, é verdade. Ganhamos mais batalhas, adiamos a invasão, mas, no final, sempre perderemos a guerra. É uma questão de tempo. Mas a ilusão de poder sobre a morte funciona de modo mágico e compreensível. «Se no momento estou ganhando, para que preocupar‐me com o que virá depois, talvez depois de muitos anos. Esse não é o meu problema». É como falar do aquecimento global que renderá um planeta inabitável nos séculos vindouros; ou como as falhas sísmicas que condenam aquele território ao cataclismo… Mas também em alguns milhares de anos. Eu, médico eficaz, me situo no dia de hoje, resolvo cada vez mais coisas, e sinto a minha performance atuando e fazendo a diferença. Mesmo assim, por mais cuidado que tenha em me situar em terreno confortável – distante no tempo e no espaço do aquecimento global, dos terremotos, da morte –, por vezes sou surpreendido e apalpo a minha impotência diante de uma doença terminal. Daí quero lembrar do aforisma – como era mesmo? – e ver se consigo me consolar, eu primeiro, do próprio fracasso, para depois consolar e confortar o paciente. Mas algo não funciona. Nem poderia. É um prêmio de consolação, um diploma de participação em quem estava pronto para conquistar o ouro olímpico.
Voltemos ao nosso aforisma. Ensinamos a curar, mesmo que seja algumas vezes. Mas o sentir diário, a experiência educacional e clínica, a fenomenologia da vivência médica, vai me mostrando que esse curar é realmente frequente. Sim, tem as doenças crónicas, aquelas que ninguém cura, mas pelo menos trata. Vem à mente a lembrança daquele livro magnífico, A Cidadela1, onde o jovem, prestes a se formar, escuta o conselho do professor de patologia que recomenda seguir a sua especialidade, visto que os clínicos são os que cuidam de doenças incuráveis e os cirurgiões consertam sem saber exatamente o que fazem. Médicos mesmo – lhe diz o professor –, somente os patologistas. De fato, é um belo conselho, mas ninguém quer saber muita medicina quando há pouco a se fazer com esse saber. Não há dúvida que é um saber imprescindível, que melhora nossa atuação, mas a aplicação dele ficará para outra ocasião, ou para outros aplicarem no futuro. No momento que nos ocupa, o ouro olímpico fugiu das minhas mãos e não quero saber porque perdi a competição, nem pensar na próxima. Agora, somente me amarga o sentimento de fracasso. E, fosse pouco, o ônus de ter que confortar alguém – paciente, família – quando eu mesmo estou destroçado, ruminando a minha incompetência.
Esta descrição, um tanto quanto Felliniana, é de fato real. E a culpa não é do jovem médico que experimenta o fracasso quando comprova que a sua ciência cura menos do que ele esperava, mas do processo de formação que está equivocado. O produto – o médico competente – não resultou como deveria ser. E quando o produto é defeituoso, a prudência manda creditar ao processo o gravame do resultado.
Aqui a nosso giro hipocrático‐copernicano, facilmente deduzível de uma simples reflexão. O que se pode esperar quando a ordem recomendada para a atuação do médico é curar, aliviar e, em último caso, confortar? O lógico é pensar que estou avançando do mais importante para o menos importante, para o detalhe. Quando não consigo curar, tenho que aliviar. E quando nem aliviar consigo, resta‐me confortar. Proceder nessa sequência fatalmente apresenta o alívio e o conforto como um prêmio de consolação (para o médico) que se deparou com uma doença incurável, dolorosa, terminal.
Mas, o que não se contempla – daí o engano terrível e trágico – é a epidemiologia (incidência, prevalência) desses termos. Enquanto confortar é algo que deve ser feito sempre, pela altíssima prevalência, o curar apresenta uma prevalência muito menor. Seria lógico, então, que o processo da atuação médica contemplasse essa proporção para produzir melhores médicos. Médicos que sempre sabem confortar – porque aprenderam que isso vem em primeiro lugar – e que, segundo os casos e as moléstias com as que se deparam, também sabem curar quando é possível. Quer dizer: a ordem dos fatores altera o produto. A ênfase, o tempo que se dedica nos anos de formação, respeitando as proporções «epidemiológicas», faz toda a diferença. Incluídas, claro está, a avalição dessas competências. Um médico que não sabe confortar, nem aliviar, não poderá ser creditado como tal, não deveria ter diploma de médico nem poder atuar profissionalmente. Mas o que a avaliação quer medir – sem consegui‐lo – é apenas o conhecimento que, em determinadas e limitadas circunstâncias, lhe permitiriam curar alguns pacientes. E nem isso avalia corretamente, porque da teoria, que ele sabe e responde na prova, até a prática há uma distância enorme.
Uma obra recente2, com alta repercussão no mercado editorial, explica de modo narrativo e ameno estas falhas de formação do estudante de medicina e, consequentemente, dos médicos que saem ao mercado. O autor, conceituado cirurgião, fala do desconcerto, ou melhor, do descaminho do estudante de medicina. Ele entra na faculdade sabendo – ou suspeitando, ao menos – o que é cuidar e, com o tempo, esquece dos pacientes porque está muito ocupado com a medicina. Um esquecimento que, seja dito de passagem, deve‐se creditar à academia, responsável pela sua formação. Novamente o pensamento de médico e educador americano Paul Batalden: «todo sistema está perfeitamente desenhado para produzir os resultados que oferece». Não podemos simplesmente reclamar do produto; temos de revisar o processo de fabricação que, certamente, é defeituoso.
Gawande explica os motivos da distração, sem utilizá‐los como desculpa: «O que nos preocupava era o conhecimento. Embora soubéssemos como demonstrar compaixão, não podíamos ter certeza de que saberíamos diagnosticar e tratar nossos futuros pacientes de maneira adequada. Pagávamos a mensalidade da faculdade para aprender sobre os processos internos do corpo, os complexos mecanismos de suas patologias e a ampla gama de descobertas e tecnologias acumuladas ao longo da história para impedi‐las. Não imaginávamos que precisaríamos pensar mais do que isso. (…). Ser útil aos outros, mas ser também tecnicamente competente e capaz de resolver problemas intrincados. A competência nos traz segurança, senso de identidade. Dedico‐me a uma profissão cujo sucesso se baseia em sua capacidade de consertar. Se seu problema pode ser consertado, sabemos exatamente o que fazer. Mas e se não pode? O fato de não termos respostas adequada a essa pergunta é perturbador e provoca insensibilidade, desumanidade e grande sofrimento»2.
O alerta que chega do paciente: os erros médicos e a carência de humanismoNão é de surpreender as queixas dos pacientes, as reclamações a até os processos que caem sobre os médicos. Ninguém processa um médico por não ter sabido curar uma doença incurável ou fatal. A queixa, sempre, está embasada na falta de cuidado, quer dizer, na carência total de competência para providenciar alívio e conforto. Mas, como o nosso médico somente aprendeu a curar e deixou os outros atributos (que considera prêmios de consolação) para outro momento; como não se exercitou neles em todos e cada um dos pacientes que depositavam nele a sua confiança, o que lhe resta é apresentar‐se como o mecânico incompetente que não soube consertar a máquina. E a máquina sempre quebra, tem data de validade impressa. A guerra está perdida a priori, e faltou categoria profissional – humana e também técnica – para ganhar batalhas, e acolher o paciente e a família nesta caminhada pela vida.
O percurso que a medicina tem seguido nestes últimos anos, engordando na técnica e desnutrindo‐se em humanismo, acarreta novos problemas que, além de prejudicar o paciente — que sempre leva a pior —, também causam transtornos ao médico. Todo o tema do «erro médico» encontra aqui a sua explicação mais profunda.
A medicina não é uma ciência exata; necessariamente tem falhas, que só podem ser reparadas com amor e dedicação. Quando não se entende isto, quando um médico apresenta a medicina, na sua fantasia tecnológica, como uma ciência exata, deverá pagar também as consequências do insucesso. No caso de um engenheiro, uma ponte que ele construa não cairá (salvo ocorram terremotos ou imprevistos), se os seus cálculos forem exatos, e tal exatidão não é difícil de atingir. Se o médico quiser apresentar‐se como um técnico, como um mecânico de pessoas, deverá aceitar a punição se não fizer os cálculos certos para «consertar o estrago».
Uma afirmação que poderá parecer chocante, mas que é também fruto da nossa experiência. O erro médico é sobretudo uma insuficiência no campo humanístico. O que protege o médico é a confiança do paciente e esta se perde quando o profissional aparece como um técnico brilhante, mas incapaz de aproximar‐se do paciente e sintonizar com sua afetividade. Os erros da família, dos amigos, daqueles que apreciamos, são sempre desculpáveis quando sabemos ler, nos olhos de quem falhou, o desejo de acertar, a boa vontade. Já os erros de um prestador de serviços impessoal – que naturalmente cobra pelo seu trabalho – não são facilmente desculpáveis, exigem indenização. É tudo uma questão de posicionamento e o paciente, inconscientemente, sabe disto. Quando nota que o médico carece da dimensão humana e se apresenta como um experto preocupado exclusivamente em consertar as avarias, pedirá satisfações e cobrará uma reparação se o profissional não conseguir cumprir suas promessas.
Ao contrário, quando o paciente percebe que existe a dimensão humana, o afeto e carinho, não estabelece auditorias do atuar técnico do médico, atuação que, de resto, dificilmente saberia avaliar. Nunca se ouviu o seguinte comentário: «O meu médico é muito atencioso, está sempre à disposição, mesmo de madrugada. Mas, coitado, não sabe nada de medicina, é incompetente». Nunca se ouviu, porque não existe; porque a vertente humana do médico é a melhor credencial e a única que conquista o paciente.
Por outro lado, quando nos aprofundamos nas queixas do paciente – queixas por imperícia, por falha técnica –, sempre encontramos insuficiência no terreno afetivo. Descobrimos, então, que todo aquele «erro médico» começou porque «o médico nem me examinou», ou porque «o médico não explicou nada do que poderia acontecer» e «nem prestou atenção no que eu estava falando». O golpe que se acusa é sempre na alma, não na deficiência técnica: essa vem depois, para dar corpo ao processo. Vale evocar um exemplo citado por Mendel no seu livro clássico, Proper Doctoring: «O paciente pode deixar de tomar um medicamento porque repara que lhe faz mal. É preciso levar em consideração estas intuições dos enfermos. O médico que não é humilde e não dá atenção aos pacientes é o melhor candidato para um processo judicial»3. São variações sobre o mesmo tema: ouvir o paciente, explicar as coisas, dimensão humana.
Em acertada síntese, Marañón esclarece mais a temática: «O pecado dos médicos, nos últimos anos, foi abdicar de tudo quanto nossa missão tinha de entranhável, de generosa ‐ de sacerdotal, para usar um lugar‐comum –, e tentar convertê‐la numa profissão científica, quer dizer, exata como a do engenheiro ou a do arquiteto […]. No fim, tudo se voltará contra o próprio médico, pois, mesmo querendo, a sua ciência será embrionária, cheia de lacunas e de aspectos pouco exatos. Estas falhas somente podem ser preenchidas pelo amor. Seu prestígio exclusivamente científico estará, inevitavelmente, sujeito a quebras graves e contínuas. E é por isso que o médico se verá privado do respeito cordial dos seus pacientes e da própria sociedade, que não aceitará seu erro com generosidade mas espreitará suas falhas, perseguindo‐o onde quer que esteja»4.
Tema candente pela sua atualidade, e um tema de difícil solução se o problema não for dimensionado, convenientemente, em equações humanísticas. Afinal, qual é o médico a quem não lhe morrem pacientes? A morte é a única coisa certa do acontecer humano e o médico, querendo ou não, está no caminho dessa saída obrigatória. Toda a sua perícia estará em saber «diluir a técnica que possui» em veículo humanitário, para que todos – paciente, família e ele mesmo – possam digerir, com sentido e transcendência, a natural contingência da vida, para a qual a ciência mais apurada será sempre insuficiente.
O médico, o sofrimento e a morte. Um gerenciamento que requer competênciaO sofrimento humano e a morte são realidades no quotidiano do médico. Paradoxalmente, observa‐se um despreparo crescente do profissional em lidar com estas situações. Por que este descompasso?
Uma primeira resposta a esta questão vem representada por uma postura que poderíamos denominar o médico técnico, entendendo‐se por tal aquele que perde a perspectiva humanística que a sua profissão traz implícita – verdadeira necessidade e não luxo – e reduz seu atuar profissional a simples técnica. É evidente que, em situações onde a técnica não tem mais nada a fazer, esse médico se verá despreparado para enfrentá‐las, sentindo‐se impotente, como no caso da morte. Essa atitude de despreparo provoca, se não se corrige, uma grave distorção da profissão médica. Quem atua apenas como técnico, quando a técnica se demonstra insuficiente, inclina‐se a procurar novos pacientes, deixando de lado aqueles com quem a técnica não funciona. Pode até parecer que existe maior preocupação com o desempenho profissional do que com o bem‐estar do paciente, motivo e razão da profissão médica.
É necessária uma preparação que vai além da técnica para saber enfrentar profissionalmente a morte, como médicos, na acepção plena da palavra. É preciso atitudes, valores, saber lidar com o sentido da vida, compreensão do momento vital. Tudo isso que se poderia condensar na palavra filosofia de vida, não tivesse o sentido depreciativo, de impotência técnica que, por ignorância, costuma‐se lhe atribuir. Recorrer à filosofia, quando a técnica nada tem a fazer, é prova da deficiente formação profissional que hoje respiramos, como se a filosofia fosse um recurso «in extremis» e não o que realmente é: postura diante da vida, que envolve valores, crenças, significados, assim como técnicas, procedimentos e recursos modernos para o bom desempenho da missão que a vida conferiu a cada um.
Não é supérfluo advertir que, curiosamente, aqueles que tentam tecnicamente todos os recursos para prolongar a vida, «mesmo contra o senso comum», são os primeiros a desistir do paciente quando este entra em fase terminal e «passam o caso a algum outro colega». Cada vez é mais raro ver «superespecialistas» junto do paciente moribundo, quando não há mais recursos terapêuticos a empregar. Pode se justificar esta atitude por sentir certo incômodo de «não estar fazendo nada pelo paciente», o que não é verdade. Na realidade, com a sua presença o médico está fazendo sim, e muito. Ocorre que simplesmente faz‐se algo que, não sendo quantificável, parece não ser útil. Isto é lógico, já que a utilidade se avaliou, erradamente, com parâmetros puramente técnicos. O fato de não poder se medir esta atitude em miligramas e doses terapêuticas não fala contra a importância desta atitude. O amor de uma mãe junto do filho doente não pode ser representado em dosagens terapêuticas, mas é inegável a sua eficácia. O médico deve estar lá com amor, mas como médico – não como a mãe ‐ e aqui está a chave do seu profissionalismo.
Urge saber descobrir a missão do médico quando a técnica é insuficiente; uma missão vital que transcende a técnica e que no momento da morte do paciente assume proporções gigantescas. Deve possuir o médico um «saudável inconformismo» com a técnica, atitude que o empurra a procurar, na sua formação e atuação profissional, outras dimensões que lhe serão imprescindíveis para enfrentar situações que estão além das fronteiras técnicas. É deste modo como se constrói a estrutura do profissional, técnico e humanista ao mesmo tempo, capaz de assumir esses desafios.
O gerenciamento da morte é uma função técnica do médico para a qual deve se preparar e a ordem dos fatores aludidos anteriormente não ajuda. Trata‐se de uma técnica que é curiosa, por não dizer peculiar, já que não deverá modificar o resultado final da sua intervenção. Modifica sim, e muito, o processo de como a situação evolui. Dito com outras palavras: morrer, todos morrem algum dia; a diferença está no modo como se morre. Aí entra a função técnica, gerencial, do médico.
Requer esta função realismo e competência. Competência para eliminar a dor, com os modernos recursos da medicina paliativa. Os estudiosos do tema costumam apontar a medicina paliativa como o melhor antídoto contra a solução fácil, cômoda e antiética da eutanásia. Dizem eles que, quando um paciente que sofre afirma «Doutor, não quero viver», o que no fundo está dizendo é «Doutor, não quero viver deste modo». Em outras palavras, eliminar a dor faz parte da função técnica do médico.
O gerenciamento da morte supõe perguntar‐se a todo o momento no que é melhor para o paciente, antes de tomar as medidas «de praxe», como internações desnecessárias, transferências para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), terapêuticas obstinadas e naturalmente ineficazes quando do processo de morrer se trata. Perguntar‐se, antes de tomá‐la, o que espero desta medida, desta prescrição. E, dialogando com a família, tomar a decisão pessoalmente, sem dividir responsabilidades, assumindo a conduta com caráter profissional. O gerenciamento da morte implica diretamente no cuidado simultâneo do paciente e da família. A família coloca questões que têm «pouco caráter técnico», mas de vital importância. Quer saber, por exemplo, se o paciente está sofrendo e se pode ser feita alguma coisa a mais. E sempre requer explicações do que está acontecendo.
O médico não pode cansar‐se de repetir as explicações, sabendo que é necessário tempo para que a família possa digerir a situação. As palavras do médico são um recurso que facilita este processo de adaptação e o médico não pode poupá‐las. Não se trata de explicar um problema de fisiopatologia, mas de fazer entender de modo vital, com toda a carga de sentimentos normais na situação, o que está acontecendo com o familiar que está morrendo. Isto requer tempo e paciência.
Deixar que a família participe no processo de morrer, junto do paciente, é atitude que elimina muitas dúvidas e ônus de consciência a posteriori. Quando a família está participando, vendo, tocando o paciente, não se pergunta depois que faleceu se poderia ter feito alguma coisa mais por ele, pois vivenciaram toda a evolução. Valha aqui uma reflexão sobre o distanciamento desnecessário da família em UTI, visitas limitadas e todo este universo que mereceria uma abordagem particular em outro momento.
O paciente sabe mais do que o médico imagina que sabe. É um sentido a mais, de realismo vital, que a condição de moribundo lhe confere. Por isso, espera do médico realismo, conforto, acompanhamento profissional. Tanto prejudica o paciente o médico que com sua atitude «desiste» por ser um «caso terminal», como aquele que pretende iludir o paciente como se nada de grave estivesse acontecendo. Requer‐se por parte do médico uma atitude ponderada, realista, imbuída da virtude da prudência em verdadeiro balanceamento paradoxal. E levando em consideração que cada paciente é diferente e gosta de modos diferentes na abordagem de um processo que, afinal, é o que ele está sofrendo. Por isso, vale a pena lembrar as palavras de um médico humanista, estudioso das questões éticas: «Uma morte realmente digna não consiste somente na ausência de tribulações externas. A dignidade perante a morte não vem conferida por algo exterior, mas surge da grandeza de ânimo com que a pessoa enfrenta essa situação única. Por isso, morrer com dignidade significa não ser paciente apenas, mas agente. Estar ativo, participar do processo»5.
Morte e Vida Severina: o homem é a melhor medidaAo mesmo tempo, existe uma insensibilização do médico perante a morte. A morte é um fenômeno que parece atrapalhar o exercício e o êxito profissional. Embora paradoxal, não é incomum o fato de o médico não contar com a morte como possibilidade real, que deve administrar. A morte não é apenas uma circunstância infeliz que surge e dificulta sua «brilhante atuação». Observamos hoje médicos que praticam alta tecnologia, mas que, explícita ou implicitamente, parecem abandonar os pacientes incuráveis, perante os quais os conhecimentos técnicos não funcionam. São médicos de «carros 0 km», corredores de prova a quem, no entanto, falta fôlego para administrar situações prolongadas, incômodas, insolúveis do ponto de vista estritamente técnico.
Nada tem de estranho que haja uma insensibilização perante a morte, por parte dos médicos, quando essa é a postura da sociedade: afinal, os médicos são elementos dessa sociedade. Na verdade, a falta de sensibilidade que aparece no momento da morte não é mais do que o reflexo de uma falta de sensibilidade habitual para as situações corriqueiras da vida. Quem habitualmente quer consertar tudo – a pessoa doente – com a técnica, frustra‐se quando repara que a técnica nada mais tem a fazer. Quem habitualmente despreza o ser humano, na sua atitude profissional, não terá como encontrar esse mesmo ser humano que sofre no moribundo. Como se poder querer possuir recursos no caso limite – quando nada mais há para fazer – se habitualmente se desprezam esses recursos no dia‐a‐dia? Já comentava alguém que ética e humanismo para os médicos não são temas para discutir à beira do leito da UTI, com o paciente agonizante. São questões para ter presente na hora de prescrever, por exemplo, aspirina. Quem não prescreve aspirina com ética, carecerá dela quando tenha de tomar uma decisão que supõe aceitar, serenamente, o final de uma vida. Erroneamente se considera a ética como assunto para situações‐limite, quando, na verdade, toda a atividade médica está intrinsecamente perpassada pela veia ética.
Vivemos tempos em que a morte é elemento quase ignorado. Uma curiosa postura que faz questão de esconder o que, na prática, é a única coisa infalível na vida de um ser humano: sua limitação e sua morte certa. Algo parecido ao avestruz, que esconde a cabeça para não ver o leão que está prestes a devorá‐lo. A morte, como fato concreto, mesmo sendo um evento diário, torna‐se único quando nos atinge. Com acerto, comenta um escritor que «o fenômeno mais trivial do universo, personalizado, toma proporções de maravilha. E todos – uma gente cansada de ir a missas de sétimo dia – todos se admiravam do cadáver do Ferraz, como se estivessem a contemplar uma aurora boreal»6.
Na realidade, o despreparo para a morte é um caso particular da falta de preparação para a vida. Uma vida – a humana – sulcada de alegrias e realizações, mas também de sofrimentos e dor, elementos presentes que tonificam o contraste vital. Numa sociedade que foge sistematicamente da dor, que cultua o prazer como meta suprema, que esconde os doentes e os aleijados – se não fisicamente, apagando‐os quanto antes da memória –, não é de se estranhar que o enfrentamento com a morte se dê em inferioridade de condições. Sem contar com o tabu que a morte parece desfrutar. Não se fala dela, evita‐se o tema com perífrases que são amálgama de medo, esoterismo e superficialidade. Esconde‐se o fato das crianças, que nada sabem da morte; e se lhes conta que aquele familiar «viajou para muito longe». Tudo de modo suave, soft, como se não fosse esta uma realidade que nos atinge a todos.
A sociedade esconde a morte. Uma conhecida estudiosa do tema, que possui ampla experiência em medicina paliativa na sua clínica de Paris, afirma contundentemente: «Em vez de enfrentar a realidade da proximidade da morte, nos empenhamos em aparentar que nunca chegará. Mentimos aos outros, mentimos para nós mesmos, e em vez de falar do essencial, ter palavras de amor, gratidão e perdão; em vez de nos apoiar mutuamente para cruzar juntos esse momento transcendental que supõe a morte de um ser querido, colocando todo o humor e o amor de que somos capazes, envolvemos com silêncio e solidão este momento única e essencial da vida»7.
Por isso, o que melhor prepara para a morte é uma postura realista, profunda, «transcendente», para usar a linguagem filosófica, da própria vida. Quer dizer: é necessário balizar a vida em termos objetivos, contando com a limitação do tempo e da própria existência. Daí que para enfrentar a morte com coragem, sem medo, enfim, para saber morrer com dignidade, seja preciso aprender a viver pautado em valores perenes, que estruturem uma hierarquia sólida. Saber morrer é, antes de tudo, saber viver, pois a morte é um passo a mais – o último – no caminho da vida.
Estas considerações são de capital importância, seja qual for a profissão que se desempenha. No caso do médico, cuja matéria‐prima de atuação é o ser humano, revestem‐se de interesse particular: são condição necessária, imprescindível, de competência. Não é possível ser médico à margem desta dimensão antropológica. O médico deveria lembrar‐se disso e dedicar tempo a pensar nessas questões. Mas parece que nem para pensar há tempo nos dias de hoje. Não será o mundo globalizado e intercomunicado quem nos oferecerá a oportunidade da reflexão necessária, da ponderação que precisamos. Vivemos um paradoxo de comunicação «on line», com uma falta cada vez maior de conteúdo. Fala‐se muito e a toda a hora de coisas cada vez menos importantes. É curioso – por não dizer assustador – que haja pessoas que consigam «conversar» na Internet durante horas a fio e sejam incapazes de manter um diálogo substancial por 10 minutos, ao vivo, sentados na mesa de um bar, tomando um café. A solução, pois, não deve vir de fora, do simples progresso. Este é um problema que cada um deverá resolver por si só, em autodidatismo e com decisões individuais. Mas é uma condição de sobrevivência, para o médico, para a medicina e para a própria vida.
Ampliar os horizontes – necessariamente quotidianos e não apenas tanatológicos – é pensar na relação médico‐paciente‐família, onde a atitude do médico deve conquistar, uma vez e outra, a confiança, condição sine qua non para um bom relacionamento, subsídio da terapêutica eficaz. A confiança não se impõe; apenas – e não é pouco – inspira‐se e o paciente sabe em quem pode confiar. Basta ouvir os comentários dos pacientes nos «bastidores» da consulta médica. Frases como: «Esse médico sabe muito, mas este outro é melhor», ou «Não fui com a cara dele e não voltei», ou ainda «Agora os médicos não te examinam. Somente pedem exames. Nem olham na tua cara; somente digitam no computador», deveriam nos fazer pensar que o relacionamento médico‐paciente não está com a melhor das cotações. Algo neste estilo queria significar Sir William Osler, paradigma do médico humanista, quando afirmava: «Mais importante que aquilo que o médico faz é o que o paciente pensa que o médico faz».
Forçoso reconhecer que o estudo da morte, que para os médicos deveria ser do seu quotidiano, encerra também riquezas enormes para a vida do dia‐a‐dia. Novamente, Marie de Hennezel traz novas luzes para nossa consideração: «A morte que nos tocará viver e que agora leva amigos e familiares é a que nos impulsiona a não ficar na superfície das coisas e dos seres humanos, o que nos empurra a penetrar na sua intimidade»7. Refletir sobre a morte nos confere densidade na existência para enfrentar a vida na sua verdadeira dimensão, com peso específico, sem conformar‐se com superficialidades que minimizam a pessoa e, no caso do médico, o tornam inapto para sua função. A vivência da morte é uma verdadeira orientação para a vida: «O fato de que a morte nos angustie tanto talvez se deva a que nos situa perante as últimas perguntas, as autênticas, essas que tantas vezes adiamos para melhor ocasião, para quando sejamos velhos, ou sábios, para quando tenhamos tempo de nos defrontar com as questões essenciais da vida»7.
Saber cuidar da morte é o resultado de quem sabe cuidar da vida. Ser médico, humanista e técnico, com ciência e arte, perante a morte implica ser médico todos os dias da vida, nas atitudes quotidianas, em permanente aprendizado e constante atenção para cuidar do paciente que se confia a nós. Bem exprime nosso poeta este sentimento que deveria inundar a vida e atitudes dos médicos e profissionais de saúde: «Podeis aprender que o homem/é sempre a melhor medida/Mais, que a medida do homem/não é a morte, mas a vida»8.
Por uma medicina plena: ciência e arte, impregnados de postura éticaA profissão médica supõe dedicação peculiar ao ser humano, procurando a saúde e o bem‐estar. Deve‐se integrar aqui o progresso técnico, e todas as outras situações que, fugindo do âmbito técnico, requerem estrutura humanística – ética e filosófica – para serem abordadas profissionalmente: a dor, o sofrimento, a vulnerabilidade humana, a dignidade que o ser humano possui e a própria morte. A insensibilização para a morte é reflexo de uma insensibilização para a vida. Uma atitude irrefletida perante os valores humanos e transcendentes do ser humano, que teimosamente se vai alimentando com elementos técnicos, deixando de lado os verdadeiros nutrientes: um matar a fome sem alimentar, uma genuína subnutrição humanística.
Hans Jonas, com a sua ética da responsabilidade9, adverte que o que nos distingue aos humanos dos animais é um tripé constituído pelo utensílio, pela imagem e pelo túmulo. O utensílio é a técnica; a imagem é a capacidade de representar a realidade através das artes, e o túmulo é a consciência da transcendência, a representação da morte que lhe situa numa dimensão que vai além da sua própria existência. Facilmente se conclui que, embora no relativo à técnica a distância com os animais é notável, cada vez se frequentam menos as artes – as humanidades – e o sentido da transcendência está quase abolido. As consequências são funestas, porque não se frequentando «o túmulo», porta da transcendência, é difícil manter o sentido de missão e a necessidade de sentir‐se útil neste mundo, como parte da felicidade que perseguimos.
Esta preocupação humanística deveria ser diária no médico e não apenas em circunstâncias finais, perante a morte. Quem, no dia‐a‐dia, não sabe atender um paciente considerando a dimensão humana do mesmo – ponderando seu ser pessoal e único – também, no momento da morte, se encontrará desarmado. Quem tudo quer consertar com técnica – seja esta troca de medicamentos, solicitação de sofisticados exames ou terapêuticas revolucionárias –, também no momento final procederá de igual modo. Surge então a decepção de quem, praticando uma fidelidade cega e irracional à técnica, verdadeiro fanatismo, repara que a técnica falha. Já disse alguém, em linguagem vital, que a parceria com a técnica muito tem de paixão arrebatadora, que, embriagando os amantes, conduz fatalmente à infidelidade com o passar do tempo. Quem não cuida do seu paciente do dia‐a‐dia, com humanismo e ciência, não saberá cuidar do moribundo.
Facilmente se entende como, neste contexto, o problema de como atuar perante um doente assim chamado terminal – valha incluir aqui também a eutanásia, distanásia, ortotanásia e todas as variações sobre o mesmo tema – gera perplexidades e discussões infindáveis. É um diálogo de surdos, onde a questão é acertar a sintonia, falar o mesmo idioma, o que infelizmente não acontece. Os técnicos parecem solicitar soluções pré‐fabricadas, também técnicas, para atuar. Quem fez de tudo técnica – toda sua atuação médica – pretende também tornar técnica sua conduta perante a morte. É gritante o absurdo da situação, já que o que na verdade se exige é uma postura que ultrapassa a técnica. Elaborar um manual de casuística – um vade‐mécum técnico para saber como comportar‐se nestes casos – seria algo assim como confeccionar um manual de «sintomas e remédios» para um balconista de farmácia. Obviamente, é preciso muito mais para diagnosticar e prescrever a terapêutica adequada. Semelhante desproporção existe quando se pretende «reduzir à técnica as atitudes perante a morte».
O médico precisa, para abordar estes temas – que são ultra‐técnicos, vão além da pura preparação científica –, de um embasamento ético, de formação e conhecimento humanístico e filosófico. Somente poderá se encontrar solução para os dilemas que são apresentados, quando sintonizamos e falamos a mesma linguagem. São dilemas de ordem filosófica, que atingem o ser humano como um todo; como tal, devem ser respondidos e isto orientará em cada caso o médico no seu posicionamento. O problema que nos ocupa – a morte – e todos os seus satélites – a dor, o sofrimento, a dignidade de homem – são questões «insolúveis na técnica». Como as vitaminas e os remédios, precisam do meio adequado para dissolver‐se e atuar com eficácia. No caso destas verdades, a solubilidade das mesmas deve ser garantida pelo meio que o médico possui: formação humanística. São, pois, verdades «humano‐solúveis» e nunca «técnico‐solúveis».
A formação ética do médico é uma necessidade imperiosa para construir sólidos alicerces, sobre os quais se possa apoiar um modo coerente de atuação. Se carecer dela, o médico praticará uma ética de ocasião, ignorando os fundamentos, e com a possibilidade frequente de errar, mesmo com a melhor boa vontade. Para uma atuação ética, boa vontade não é suficiente; é preciso conhecimento dos fundamentos, da natureza humana, da dignidade que dela decorre.
Quando se possui esta base ética, muitos dos dilemas que a casuística traz resolvem‐se com naturalidade. O médico não se sente na obrigação de prolongar a vida, ou de causar a morte, porque sabe que sua função é atender o paciente de modo digno, estar a serviço da vida e aliviar as dores e sofrimentos. Saberá rejeitar a tentação de erigir‐se em senhor da vida ou da morte, porque não é este seu papel. A ética coloca‐nos na dimensão certa, delimita nossa função, amplia os horizontes da missão que vão além da técnica, prepara‐nos para desempenhá‐la com atitudes humanas.
Naturalmente, a questão ética é algo que compromete, e daí a dificuldade que estas realidades apresentam na hora de serem vividas. O médico deve atuar com profissionalismo, saber guardar as distâncias, sem envolver‐se de modo desordenado com a afetividade do paciente. O carinho, a dedicação, a atenção privilegiada do médico não implica sucumbir às emoções. Isso é norma clássica da boa conduta médica. Mas, por outro lado, o médico não pode prescindir da sua condição de homem e muito menos da condição humana do paciente. Por isso, tem de saber entrar nessa esfera que foge da técnica e que diz respeito às realidades vitais, onde está incluída a morte, falando a mesma linguagem, em sintonia de quem está no mesmo barco. Aqui, é onde as coisas se complicam: ninguém dá o que não tem.
Quem nunca se preocupou com estes temas ou na prática e na sua vida pessoal pouco lhe afetam, porque os estocou num recanto pouco frequentado da consciência, carecerá de recursos, nada terá a oferecer. Daí a insatisfação do paciente, quando não a decepção, em receber conselhos standard, plastificados, provenientes de quem patentemente não os vive. A ética, quando se vive, acaba modificando a própria vida e daí vem a credibilidade, a força do exemplo. Não há ética médica sem ética pessoal, quer dizer, sem que a ética deixe de atingir plenamente o médico como pessoa. As estruturas são o reflexo do que os indivíduos levam dentro de si. Esse é o verdadeiro desafio que nos coloca a consideração da insuficiência técnica perante o paciente que enfrenta o transe da morte. «Ser um profissional é mais do que ser um técnico. É algo enraizado na nossa consciência moral, pois somente quem tem a vontade e a capacidade de dedicar‐se aos outros, e procurar um bem mais alto, pode fazer profissão pública do seu modo de vida»10.
Cuidados paliativos: o que os outros não querem (não sabem) fazer?A nossa vida é feita de histórias. São as vivências as que marcam e definem o nosso perfil e alimentam nossa existência. Somente depois vamos buscar as ideias, o embasamento – o referencial teórico, como dizem os pesquisadores – que sustenta e ordena as vivências.
Talvez por isto, enquanto revisava os tópicos que aqui se recolhem e com os quais venho lidando há muitos anos11, uma história veio à minha lembrança. Foi anos atrás, conversando com um amigo médico que se dedica aos cuidados paliativos num país da Europa. Perguntei‐lhe como tinha decidido trabalhar nessa área. Ele sorriu e respondeu com uma simplicidade esmagadora: «Não pense você que eu tinha vocação para fazer cuidados paliativos, ou que isto era o meu sonho. Na verdade, sou geriatra de formação e o que sempre fiz foi dedicar‐me ao meu paciente com afinco. Com o tempo, reparei que, ao cuidar do meu paciente até o final, olhei em volta e todos os médicos que tinham participado na vida dos meus pacientes haviam desaparecido no momento em que eles finalizavam a vida. Fiquei sozinho. Na verdade, me surpreendi praticando paliativos. Como você vê, foi apenas uma consequência da minha dedicação. E ver que ninguém estava lá para fazer isso. Mais nada».
Praticar os cuidados paliativos é decorrência de quem, ao longo da sua atuação médica, soube ter o paciente como foco principal do seu atuar. O paciente, repito, e não a doença. Requer uma prudência clínica que ilumina as prioridades a serem tomadas. Gawande explica‐o com clareza: «A diferença entre os cuidados médicos padrão e os cuidados paliativos não é a diferença entre tratar e não fazer nada. A diferença está nas prioridades. Na medicina normal, o objetivo é prolongar a vida. Sacrificamos a qualidade da existência no presente – realizando cirurgias, oferecendo quimioterapia, colocando na UTI – em troca da chance de ganhar mais tempo no futuro. Nos cuidados paliativos, se ajuda o paciente com doenças letais a terem a vida mais plenas que podem ter, concentrando‐se em objetivos como eliminar a dor, preservar as faculdades mentais o maior tempo possível, possibilitar que tenha uma vida que se aproxime do normal. A prioridade nos paliativos não é viver mais, mas viver melhor»2.
A «conversão» deste autor, cirurgião de formação, aos cuidados paliativos fez com que se debruçasse sobre a pesquisa. Encontra estudos variados que mostram que pacientes com doenças terminais vivem mais tempo quando colocados em programa de paliativos, do que quando tratados com medicina tradicional mediante cuidados oncológicos normais. O autor – que pensava que os paliativos aceleravam a morte – comprova que não é assim, que vivem melhor e alguns vivem até mais tempo. E conclui: «lição zen, você vive mais tempo quando para de tentar viver por mais tempo».
Mas a prática dos cuidados paliativos não é – como erroneamente se interpreta – adquirir novas habilidades e competências técnicas, como um elemento acrescentado à prática habitual da medicina. Algo assim como um cirurgião que aperfeiçoa sua técnica com um curso de cirurgia laparoscópica ou robótica. Praticar cuidados paliativos é algo que qualquer médico poderia – e deveria – saber fazer, se investiu tempo em refletir e praticar sobre todas as considerações que até aqui foram enumeradas e exaustivamente analisadas. Quer dizer, se soube construir, independente da sua especialidade médica, uma postura integral, ética, realista, impregnada de ciência e arte, dedicada ao bem‐estar do paciente.
O desafio não é pequeno como, mais uma vez, adverte Gawande. «O problema com a medicina e as instituições geradas para cuidar dos doentes e dos idosos não é o fato de terem uma visão incorreta que dá sentido à vida. O problema é que praticamente não têm visão nenhuma. O foco da medicina é estreito. Os profissionais da área médica concentram‐se na reparação da saúde, não no sustento da alma. Porém – e esse é o doloroso paradoxo –, decidimos que são esses os profissionais que devem definir a maneira como vivemos nossos últimos dias. Por mais de meio século, tratamos as provações das doenças, do envelhecimento e da mortalidade como questões técnicas. Tem sido um experimento de engenharia social, colocando nossos destinos nas mãos de pessoas valorizadas mais por suas capacidades técnicas do que por sua compreensão das necessidades humanas»2.
Reconheço que a conclusão à qual Gawande chega me conquistou. É o cirurgião experiente, que enxerga o cuidado com o mesmo rigor profissional que as intervenções cirúrgicas, e que, portanto, ambos procedimentos requerem um reconhecimento adequado, também financeiro. «Considerando que algumas dessas conversas (dos cuidados paliativos) precisam ser longas, muitos argumentam que o problema‐chave tem sido os incentivos financeiros: pagamos aos médicos para que façam quimioterapia e cirurgias, mas não para que dediquem seu tempo a determinar quando não são aconselháveis. Temos aqui uma questão ainda não resolvida: qual é a verdadeira função da medicina e para que deveríamos estar pagando aos médicos?
Neste ponto, a minha identificação com o autor foi total, pois não são poucas as vezes que tenho afirmado, em aulas e conferências, que enquanto o mercado mantenha altos investimentos em tecnologia, mas considere a humanização da medicina como um voluntariado apenas louvável, não vamos nunca mudar o sistema. O gestor gasta em aparelhos, mas fecha o orçamento quando se trata de educação, de sensibilizar os profissionais da saúde para os cuidados reais, para «o que conta no final», como diz o título do livro de Gawande. De novo, o sistema entrega o produto para o qual foi desenhado. Um desastre.
Os paliativos surgiram nas últimas décadas para trazer esta dimensão de cuidado aos pacientes que estão morrendo, com expectativas limitadas de vida. A especialidade avança, mas Gawande não vê nisto motivo de comemoração. O entusiasmo do cirurgião converso aos paliativos – catalisado pela história de vida do pai dele, é claro – leva a conclusões de vulto. «Só será possível comemorar quando todos os clínicos tiverem esse tipo de posicionamento com cada pessoa por eles tratada; quando não houver mais necessidade de uma especialidade separada»2. Eu concordo com ele, mas somente em parte. Se os médicos fossem o que se supõem que têm de ser, isso seria verdade. Mas a distração e o descuido já levam décadas acumuladas. Não advogo por deixar os cuidados apenas nas mãos de alguns especialistas, dos assim chamados paliativistas, para que o resto dos médicos continuem divertindo‐se com a medicina e esquecendo‐se dos pacientes. Não me parece uma solução sustentável, porque estaríamos certificando o fracasso da medicina como ciência humana. Mas, por ora, que um grupo de médicos competentes assuma esta tarefa, e seja como um despertador para todos os outros, uma lembrança hipocrática, parece‐me imprescindível. Afinal, a ordem dos fatores que cristaliza em produto alterado leva muito tempo sendo praticada e ensinada. É, talvez, no ensino, nos bancos acadêmicos, onde deve se reverter essa ordem equívoca de fatores.
Cuidados paliativos na graduação médica: invertendo os fatores para chegar no produto corretoVoltamos ao nosso aforismo inicial, interrogando‐nos novamente sobre o processo que fabrica o produto equivocado. É evidente que uma proposta de giro copernicano no aforismo deve passar pela formação médica, pelos anos de graduação universitária.
O curriculum de graduação médica é governado por uma variante do princípio de Arquimedes: assim como 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar num fluído, é preciso optar por uma série de conhecimentos e deixar outros de lado. Esta harmonia, tão difícil de estabelecer como necessária, requer integrar os conhecimentos e colocar os ingredientes necessários do saber médico na proporção correta12.
Selecionar dentre esses conhecimentos, aqueles que são absolutamente indispensáveis para um aluno no período de formação, é tarefa que exige esforço. O bom senso e a competência docente indicam que o objetivo não é formar médicos que sejam capazes de armazenar a maior capacidade de conhecimento, mas garantir que nenhum deles irá ao mercado de trabalho com carências essenciais. É preciso decidir e exigir aquilo que um médico não pode deixar de saber!
A faculdade deve formar médicos generalistas bem preparados – o que poderíamos denominar bons médicos «células tronco» –, que depois tenham capacidade para diferenciar‐se em especialistas competentes. Se a formação é deficiente, as «células tronco» deixarão a desejar e a especialização posterior não suprirá os defeitos de base13.
É neste ponto onde os cuidados paliativos se apresentam como cenário fértil na educação dos estudantes de medicina, pois através deles é possível adquirir competências, saberes, conhecimentos e habilidades que todo médico deve possuir.
Educadores concordam sobre a necessidade de se ensinar cuidados paliativos na graduação e em programas de residência e, por isso, a disciplina tem sido introduzida no currículo de muitas escolas médicas em todo o mundo14 O ensino dos cuidados paliativos não consta na grade curricular das escolas médicas brasileiras e os médicos brasileiros não são educados para lidar com a terminalidade da vida e com o sofrimento, algo que o mercado de trabalho solicita cada vez com maior insistência15.
No nosso meio, existem vários relatos de atividades didáticas extracurriculares em cuidados paliativos com estudantes de medicina e residentes, que mostram importante impacto de aprendizado16–19.
Os estudantes aprendem a ver o paciente como foco principal no atendimento, adquirem familiaridade com o mundo do paciente e buscam conhecer o contexto em que vive e suas crenças, ferramentas essenciais para um bom cuidado. Quando os residentes começam a se sentir confortáveis em cuidados paliativos, sua performance melhora intensamente em outros campos de ação menos complexos13.
Igualmente aprendem a lidar com os familiares, compreendem a importância de permitir que membros da família falem sobre os sentimentos do paciente e sobre seus próprios sentimentos e dificuldades. Uma ocorrência relativamente comum atraiu a atenção – algumas vezes, quando pacientes tinham dificuldades em comparecer ao consultório, os familiares iam sozinhos para obter conselhos e prover a continuidade dos cuidados. Alguns familiares expressavam sua gratidão através de cartas, telefonemas ou mesmo visitando o ambulatório após a morte do paciente. Ocasionalmente, retornavam com uma única necessidade, compartilhar sentimentos e experiências relacionados aos momentos finais do paciente13.
A atuação em cuidados paliativos desenvolve também habilidades que não se aprendem habitualmente na universidade, como melhorar a capacidade de comunicação. Os médicos não aprendem a comunicar‐se durante a sua formação e muitos pensam que o farão empiricamente. A prática demonstra que comunicação é uma habilidade a ser desenvolvida e aprimorada, assim como qualquer conhecimento técnico, mas em um cenário com pacientes delicados e familiares desgastados pelo contexto, a comunicação deve ser uma aliada, esclarecendo as dúvidas das famílias, transmitindo segurança e dizer com sinceridade que nem tudo tem explicação, mas que o nosso intuito é deixar o paciente confortável. Alguns médicos evitam esses momentos, temem as perguntas para as quais não tem respostas. Ou mostram‐se impacientes para explicar, repetidamente, o quadro do paciente, uma vez que não é raro a família mostrar‐se pouco conformada quanto à impossibilidade de cura. Essa habilidade de comunicação é uma qualidade do médico que pratica os cuidados paliativos e as famílias, notando a empatia do profissional, tendem a demonstrar confiança e expor melhor seus anseios13.
Aprende‐se, ao mesmo tempo, o bom senso, o liberalismo que o médico tem de praticar. Assim, não seguir protocolos restritos por estar focados no paciente. Se ele solicitar a alta médica para passar seus últimos e preciosos momentos com sua família, deitado em sua cama e em um ambiente familiar, e tiver condições mínimas para tal, ele será atendido. Do mesmo modo em relação aos caprichos alimentares, orientar as famílias quanto à liberação da dieta, qualidade de vida não apenas viver sem dor ou desconfortos, mas sentir prazer no paladar13.
Os ambulatórios didáticos de cuidados paliativos mostram‐se como um cenário único, onde é possível promover o perdão, a harmonia familiar, comunicando que a tão temida morte está iminente. Aprendem‐se, na prática, que quando os demais médicos que passaram pelo paciente já não o acompanham mais, o médico que pratica os cuidados paliativos está presente, auxiliando não apenas na parte médica, mas em contato com a família, sentindo‐se parte dela. Os cuidados paliativos ensinam compaixão e a sensação do dever cumprido. É conseguir segurar a mão do paciente e dizer «foi um prazer cuidar do senhor», sem culpa e sem nenhum sentimento de impotência13.
Certamente, o ensino das Humanidades (literatura e artes em geral), o qual vem sendo introduzido em muitas escolas médicas, com o objetivo de proporcionar um maior conhecimento do ser humano e preparar estudantes e jovens médicos a lidar melhor com as questões que emergem no cenário de cuidados paliativos, tem‐se mostrado, de alguma forma, benéfico. No entanto, esse ensinamento somente é útil quando realizado paralelamente à prática e proporcionado por profissionais que consigam transitar livremente pelos 2 mundos – o das artes e o da vida real. Assim, tais profissionais permitem a integração de conhecimentos graças a seus exemplos e orientações, os quais remetem à ideia de que não existem regras prontas – é necessário refletir e criar em cada situação vivida13.
Colocando ponto final a estas reflexões, outra lembrança acode à minha mente. As ligas acadêmicas que, há 40 anos, existiam na faculdade onde cursei medicina, na Casa de Arnaldo. Eram apenas 3, número desprezível comparado com a proliferação de ligas que hoje vemos. Eram 3, mas com um propósito docente muito claro e objetivo. No primeiro ano podíamos frequentar a liga de combate à sífilis, onde o objetivo não era alta pesquisa sobre o treponema, mas simplesmente aprender a dar uma injeção intramuscular. Habilidade modesta, mas de suma importância. No terceiro ano, éramos convidados a frequentar a liga de combate à febre reumática. Pouco havia de combate, a não ser as mesmas injeções que tínhamos aprendido a dar na liga da sífilis, mas havia um aprendizado riquíssimo: a ausculta cardíaca, em cima de uma variedade infinita de sopros cardíacos que os pacientes acometidos da pancardite reumática apresentavam. Finalmente, no quarto ano, tínhamos a opção de frequentar a liga da pediatria, também com um objetivo tão claro como importante: aprender puericultura. Ainda lembro o saudoso professor E. Marcondes, titular da pediatria, comentar: vocês já viram crianças com todo tipo de doenças neste hospital, mas são capazes de se formar sem saber o que é uma criança normal! Para isso servia a liga de pediatria, para conhecer crianças normais, praticar a puericultura, saber preparar mamadeiras, pesar e medir as crianças, aprender o esquema de vacinação.
E os cuidados paliativos? Postulamos aqui a inclusão dessa disciplina no curriculum da graduação médica, mas sabemos dos problemas que tal articulação requer nas congregações docentes e as negociações políticas pelo espaço de tempo curricular. Quem sabe, o caminho poderia ser fomentar as ligas de cuidados paliativos, pois o impacto docente já foi mostrado em projetos extracurriculares semelhantes. Com toda a sinceridade, se me perguntam qual é objetivo didático de uma liga de transplante ou de psicoterapia breve – por dar um par de exemplos –, não saberia dizer. Parecem‐me conhecimentos muito específicos, um diletantismo em quem se prepara para ser um bom médico «célula tronco». Mas, em se tratando de uma liga de cuidados paliativos, eu a colocaria no mesmo nível de aprendizado que as 3 ligas clássicas dos meus anos de estudante.
O aluno aprenderia, nessa liga de cuidados paliativos, atitudes e habilidades que um médico não pode deixar de saber. Enquanto não chega o espaço curricular, a liga seria uma opção convidativa e interessante. O estudante aprenderia que o primeiro é confortar, para aliviar do melhor modo possível, e que curar é um evento que, com alguma frequência, o médico consegue proporcionar. Aprenderia a ordem inversa dos fatores, estaria se construindo como um produto correto, como um médico de verdade.